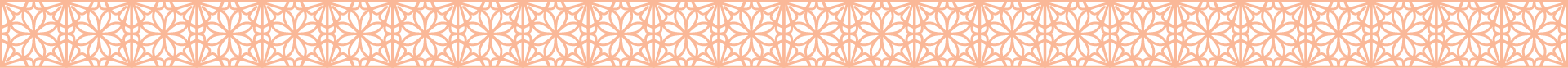
O retorno do Talibã ao poder no Afeganistão representa o retorno de um dos regimes mais opressores contra mulheres em tempos modernos, tendo Estado e religião como instrumentos. É uma das experiências extremas que chegam ao século XXI, nas quais as crenças são usadas para tratar de formas diferentes os gêneros. É possível ser diferente? Dentro da fé islâmica e se valendo do Alcorão, mulheres praticam o feminismo.
O feminismo islâmico como movimento estruturado data dos anos 1980. Ele surge na tentativa de erradicar ideias e práticas patriarcais endossadas como muçulmanas, por terem sido naturalizadas e perpetuadas, e busca recuperar a ideia central do Islã de igualdade de gênero — indivisível da igualdade humana. Assim como na teologia feminista, é a partir da reinterpretação de textos religiosos que essas mulheres visitam os textos do profeta Maomé e atestam a equidade de gênero pela qual lutam.
Cila Lima, pesquisadora do Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano (GTOMMM) na Universidade de São Paulo (USP), em sua pesquisa de doutorado, revelou que o movimento feminista islâmico surge em um encontro de outros dois principais movimentos sociais de mulheres muçulmanas: o secular, de caráter político-social, que faz uso de uma narrativa feminista universalista, dirigida a todas as mulheres de sua localidade; e o islamista, que rejeita o feminismo e atua de acordo com leituras literais e de raízes fundamentalistas das fontes religiosas islâmicas.
"Essas mulheres que não se encaixavam mais nesse movimento criaram uma narrativa que une religião e feminismo. "
O movimento feminista secular nasce no século VII, com foco na participação das mulheres nos espaços políticos e econômicos, mas com uma linguagem secular que abandonava as tradições culturais e religiosas, considerando a religião em si como um fator de opressão. Já o islamista tem caráter fundamentalista, onde as próprias adeptas se autodenominam como antifeministas, seguindo à risca as tradições. Nesse contexto, o feminismo islâmico surge como uma válvula de escape para aquelas mulheres que não podiam exercer sua religião e sua cultura de forma plena e outras que exerciam a religião de forma bastante opressiva, invisibilizando as mulheres.
"Essas mulheres que não se encaixavam mais nesse movimento criaram uma narrativa que une religião e feminismo. Uma linguagem religiosa, um paradigma religioso, que passou a ter uma metodologia feminista como uma linguagem religiosa, então a fusão dos grupos é na narrativa", explica Cila.
A principal vantagem do feminismo islâmico é que ele consegue ter uma narrativa clara para todas as mulheres, independentemente do território onde estão. No Oriente Médio, por exemplo, existem países com inúmeras restrições às liberdades individuais das mulheres, como é o caso do Iraque, Síria, Paquistão e Afeganistão. Em cada território, as reivindicações mais urgentes são diferentes. No caso do feminismo islâmico, a luta é pela reinterpretação do discurso, algo que não muda de contexto em relação ao território.
"Então, dá pra estudar esse corpo desterritorializado como uma narrativa. Certo que quando estudamos limites e atuação desse movimento, percebemos diferenças na atuação dos países. As ONGs feministas islâmicas trabalham com a inserção na educação e a ideia do efeito dominó." Cila explica ainda que cada ONG feminista islâmica leva algumas participantes de vários países. A ideia é formar aquelas pessoas para ter argumentos e narrativas para chegarem em seus países e desenvolverem grupos pra lutar contra a narrativa patriarcal religiosa, criando, assim, multiplicadores do discurso.
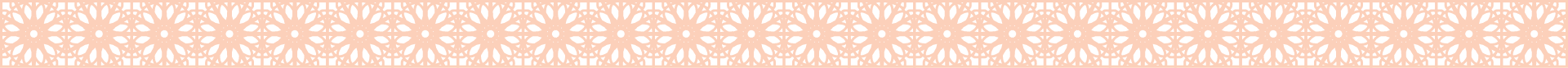
A professora paulista Fabíola Oliveira, 32 anos, também se engajou no movimento feminista depois de descobrir o islã em um intercâmbio na Austrália, há 12 anos. “Eu fui no mês do Ramadã, mês abençoado dos muçulmanos, época de jejum. Eu via algo diferente naqueles jovens por causa daquele compromisso espiritual, e isso foi me despertando o interesse”, conta. O Ramadã é período de autorreflexão para os muçulmanos. O objetivo é crescer espiritualmente e fortalecer a comunhão com Alá. Para isso, os fiéis praticam oração e recitação do Alcorão, ações conscientes e altruístas e a renúncia de qualquer tipo de difamações, mentiras e discórdias.
Convertida há oito anos, Fabíola passou três anos estudando a religião, depois que voltou ao Brasil, para se converter. Até essa época, a professora ainda se considerava cristã e percebia semelhanças entre o cristianismo e o Islã. “Foi uma crença que me completou no sentido de já estar fazendo o que sempre achei que deveria fazer”, comenta sobre quando tomou a decisão de se converter.
Observando essa semelhança entre as religiões, Fabíola percebeu que muitos direitos pelos quais lutava, o islã já garantia. “Por exemplo: o direito ao divórcio e ao prazer sexual. Eu parti no meu processo nessa busca espiritual, e foi também parte de uma perspectiva feminina”, explica.
"A diferença é que essas mulheres vão lutar pela leitura fidedigna dos textos sagrados, diferentemente de outros pensamentos feministas que acabam não querendo que a religião seja um ponto inicial. As feministas islâmicas vão lutar com o alcorão na mão"
Quando questionadas sobre como a religião auxilia as mulheres na busca por direitos, a resposta de Karine e Fabíola são as mesmas: elas buscam apenas o reconhecimento do que já está dado pelo Alcorão. “Existe essa releitura livre, longe dessas construções sociais e culturais que existem, mesmo o islã barrando todas essas opressões. A diferença é que essas mulheres vão lutar pela leitura fidedigna dos textos sagrados, diferentemente de outros pensamentos feministas que acabam não querendo que a religião seja um ponto inicial. As feministas islâmicas vão lutar com o alcorão na mão”, pontua Fabíola.
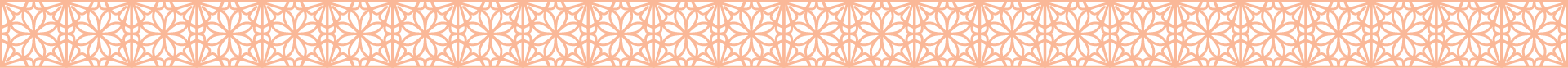
A Sharia é a lei islâmica, que faz parte da fé derivada do Alcorão e do Hadith, o registro de palavras e atos do profeta Maomé. Em alguns países, esse conjunto de leis ainda é utilizado como ferramenta de opressão para as mulheres, impedindo-as o acesso à educação e ao empoderamento intelectual, além de limitar os acessos e liberdades dessas mulheres.
Essas leis são interpretadas de diferentes formas pelos movimentos. No caso do feminismo islâmico, Cila explica que a ideia dessas mulheres é reinterpretar a Sharia, sem modificar seu texto, mas adaptando-o à modernidade, incluindo questões como direitos humanos e feminismo. Para as feministas islâmicas, a Sharia é um corpo sagrado que vem como base do Alcorão e que serve como apoio moral e como se fosse conselheiro das populações, das normas morais, das normas comportamentais, e não como lei.
Quando elas fazem isso encontram no mesmo caminho a crítica à religião e fazem a reinterpretação, sem mexer nos textos sagrados. "Então, a luta é pela reforma no islã com essa ideia de compatibilidade da religião com a modernidade'', ressalta Cila que atesta que, com essa linguagem religiosa, as feministas islâmicas conseguem dialogar e adentrar espaços que o feminismo secular não consegue, por exemplo.
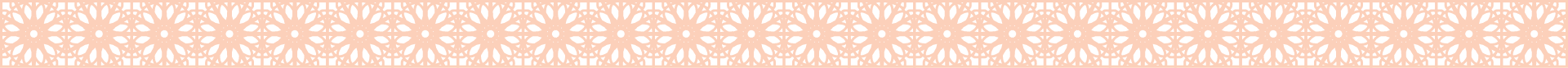
A internacionalista e fotógrafa Karine Garcêz é cearense e há 14 anos se converteu ao islã. Criada em uma família cristã em Redenção, foi no islã que Karine se aproximou do feminismo e começou a se apropriar também da presença do feminino na religião não-ocidental.
As feministas islâmicas ou as feministas muçulmanas que vivem no Brasil enfrentam um desafio quase tão incômodo quanto o machismo: a islamofobia. Entre as duas feministas islâmicas ouvidas para esta reportagem existem algumas semelhanças, e uma delas é o incômodo causado pela visão do feminismo ocidental de que os véus ou hijabs utilizados pelas muçulmanas interferem na sua posição como feminista. “Quando uma freira se coloca como feminista, ninguém a julga incapaz pela sua roupa”, evidencia Karine.

Para Karine Garcêz, que utiliza o véu, a decisão de expor ou não o corpo fica a cargo da mulher. "Se formos falar sobre o véu como opressão, precisamos falar sobre o véu compulsório, quando o Estado obriga as mulheres a usarem. O véu islâmico é uma decisão pessoal, não é imposto nem pelo estado nem pela família. É uma decisão pessoal e íntima. O véu pra mim é um posicionamento político, eu me posiciono como mulher muçulmana", explica.
A Sharia ainda é utilizada como justificativa para a adoção da obrigatoriedade de vestimentas específicas para mulheres, com os véus islâmicos, em países que a adotam como legislação. Essa interpretação é a definição do uso por lei, portanto, varia de acordo com o país.

Para Fabíola, o véu é um acessório político. “(O véu) se tornou resistência. Eu resgato as memórias dos muçulmanos trazidos da África e escravizados do Brasil, e as pessoas não entendem, não querem ter esse lado da escuta. Muitas pessoas dizem que não temos vozes, mas na verdade não querem nos ouvir”, reclama Fabíola.
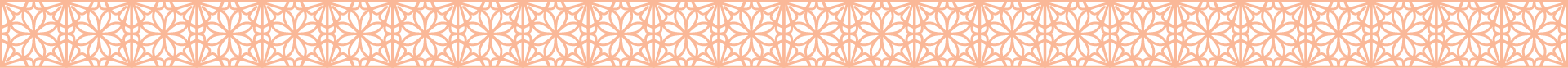
Na vida de Karine, os episódios de machismos vivenciados após se converter ao islã, na maioria das vezes, vêm acompanhados da islamofobia, o preconceito em relação aos muçulmanos ou ao islamismo. Uma das mais recorrentes formas de opressão associa o véu a terrorismo. Karine explica que, para além do preconceito, existe uma deturpação do contexto histórico da época, e essas interpretações erradas, ou literais demais, que não levam em consideração o contexto da época, já chegam com essa roupagem no ocidente.
Nas redes sociais, Fabíola costuma compartilhar a rotina como uma maneira de desmistificar as mulheres islãs do senso comum atribuídas a elas no ocidente. “O estereótipo assumido da mulher muçulmana é o de uma coitada que não tem forças suficientes e que precisa de uma salvação branca e europeia”, exemplifica. Fabíola esclarece que, nesses casos, é preciso entender a estrutura dessa opressão que parte de homens e mulheres. “É preciso entender todas as camadas de opressões presentes na sociedade para entender tudo isso, porque essa dominação não é apenas masculina, mas de povos em cima de povos”, explana.
No ambiente virtual, os ataques são muitos, a maioria deles no sentido de que não se pode ter dentro do feminismo uma religião. "Sendo que essa religiosidade nem é conhecida por essa mulher, porque sempre vem com uma narrativa judaico-cristã ou somente cristã, pensando nesse conservadorismo, quando na verdade o islã não é nem um pouco conservador", explica.
Fabíola prefere se denominar apenas como feminista. Apesar de também reconhecer o feminismo islâmico, ela diz que as pautas de reivindicação mudam muito de acordo com a região. "Na sociedade que eu estou, eu não preciso pedir, de acordo com o Alcorão, as leis que já foram me dadas pela religião, mas preciso estar no movimento de mulheres lutando pela garantia de direitos de todas as mulheres, não importando a religião", reflete.
De acordo com Cila, é justamente essa linguagem universal do feminismo islâmico que permite adentrar em todas as comunidades, inclusive no Brasil. A opção pelo uso do véu ou não é uma coisa exclusiva do feminismo islâmico. Cila explica que o movimento feminista secular trouxe a ideia de que a religião oprimia as mulheres de algumas formas, sendo a vestimenta uma delas. Já as mais ortodoxas achavam que quanto mais cobertas as mulheres, melhor demonstrariam sua fé. As feministas islâmicas chegam e apresentam a ideia de que a mulher pode decidir se quer usar o véu, seja por razões religiosas ou políticas, mas não usá-lo não as fazem ser menos religiosas ou mais feministas.
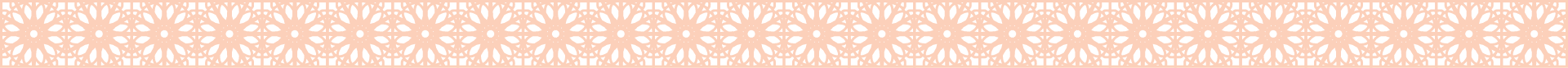
Cila Lima aponta que o movimento das feministas islâmicas conseguiu várias melhorias para as mulheres no Oriente Médio, mas, antes disso, o movimento feminista secular já havia inserido a mulher em alguns espaços na sociedade. Uma exemplo disso é o caso da luta dessas mulheres contra mutilação genital feminina na Mauritânia.
"Desde os anos 1970 há pedidos para que a ONU considere a violação genital feminina como violação dos direitos humanos. As feministas seculares já lutam desde os anos 1940, 1950 contra isso em países onde isso é imposto. A ONU foi proibir essa prática em 2011", explica a pesquisadora, ressaltando que a diferença entre os pedidos ao longo do tempo diz respeito à pressão das feministas islâmicas que, a partir dos anos 1990, começaram a entrar nas convenções da ONU utilizando uma linguagem islâmica.
"Foi possível para a ONU, a partir dos movimentos feministas islâmicos que também reivindicam a proibição de mutilação genital feminina, sem que isso pareça uma intervenção cultural, porque é um clamor interno. Depois da declaração da ONU, vários países proibiram a mutilação genital em efeito dominó", explica.
A Mauritânia é exemplo de país com forte atuação do feminismo islâmico contra a mutilação genital até hoje. Quando uma menina completa dois meses, faz-se uma festa tradicional, como forma de aceitação daquela mulher. No fim, corta-se o clitóris da bebê. "O feminismo islâmico, junto com movimentos locais, lançou uma campanha chamada 'NoCut', reconhecendo a beleza do ritual de recebimento, mas apontando que aquilo é um processo de mutilação. E lá houve um recuo enorme nessa questão", aponta Cila.
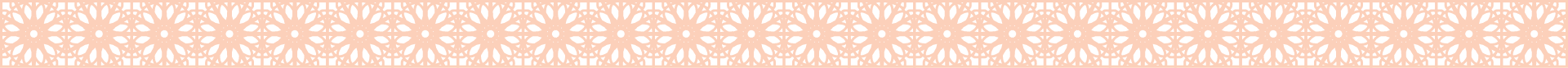

Artigo >> Por Cila Lima *
Em primeiro lugar é necessário ressaltar, que justamente pelo embate violento entre os movimentos de mulheres e os grupos fundamentalistas no Afeganistão, não houve cenário propício para a presença do feminismo islâmico. No Afeganistão, bem como no Paquistão, o feminismo atuante permanece majoritariamente secular e está em luta constante com os grupos extremistas.
A RAWA (Revotionary Association of Afegan Women) sempre atuou sob um paradigma secular e depois da primeira invasão do Talibã neste território, fim dos anos 90, a RAWA tem atuado na clandestinidade, apoiando mulheres em locais não conhecidos, como salões de beleza, clínicas médicas etc. Inclusive a sede do financeiro da RAWA não está no país, localiza-se em outros países que mantém sua proteção. Claro que a situação atual, de o Talibã ter tomado cidades centrais para o controle político do pais vai atingir completamente as mulheres e pode até mesmo colocar a RAWA num ostracismo completo, sem condições nenhuma de lutar pela proteção das mulheres.
"Se as feministas neste país já eram perseguidas e assassinadas, mesmo tendo um parlamento e uma legislação com algumas leis de proteção às mulheres, imagina como elas estarão sob o poder totalitário do Talibã?"
Isso muda muita coisa na realidade dessas mulheres que já eram privadas de Direitos. Embora os índices da educação básica das mulheres neste país sejam os menores do mundo muçulmano, o Afeganistão estava com 21% de mulheres no parlamento, devido à política de cotas imposta pela ONU. Esse panorama com certeza mudará, a educação das mulheres cairá para próximo de 0 e a presença de mulheres no parlamento cairá para o mínimo possível. Até porque nem parlamento haverá efetivamente.
A reclusão das mulheres será total, com esse poder bélico do Talibã em cidades centrais do país. Se as feministas neste país já eram perseguidas e assassinadas, mesmo tendo um parlamento e uma legislação com algumas leis de proteção às mulheres, imagina como elas estarão sob o poder totalitário do Talibã?
* Cila Lima, doutora pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisa sobre Oriente Médio e Mundo Muçulmano no Laboratório de Estudos da Ásia na USP
Olhar para o humano a partir da fé, das crenças e da influência exercida pela religião na sociedade