
De terno branco, Ailton Krenak aplica a tinta preta de jenipapo em seu rosto. O ano é 1987. Então com 33 anos, o líder indígena participa da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e legitimou a redemocratização do País após a ditadura militar. Em seu discurso, ele reivindica a proteção dos povos originários deste território: “O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos oito milhões de quilômetros quadrados do Brasil”.
Após 35 anos desse marco na história brasileira, que levou à incorporação de um capítulo sobre os direitos dos povos indígenas na Constituição, Krenak se vê no mundo como um menino que “pega pulga em carro de boi e atravessa a serra dentro de um balaio em volta de um burro”.
É, também, “um sujeito coletivo”. Assim conta o ambientalista, filósofo, jornalista, poeta e escritor, em entrevista ao O POVO. Aos 68 anos, esse mesmo menino diz que, “eventualmente, publica livros”. Em voz branda, com falas cadenciadas por breves silêncios e pausas para retomar o fôlego, o pensador fala sobre a sensação de ter o corpo andando devagarinho dentro d’água e destaca a conexão da humanidade com a mãe Terra.
O planeta está sofrendo. Krenak ressalta: esse imenso organismo vivo, ao lutar pela sua sobrevivência, pode decidir expulsar a espécie homo sapiens “e toda sua linhagem estúpida”. “Não tenho boas notícias do mundo”, diz.
Novo ocupante da cadeira de número 24 da Academia Mineira de Letras e Doutor Honoris Causa pela Universidade de Brasília (UnB) e pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Krenak também repercute a luta dos povos indígenas e analisa a pandemia da Covid-19, o consumismo, as desigualdades, o sistema educacional, a política brasileira e a alienação provocada pelas novas tecnologias e pelo capitalismo.

Para o doutor, o homem branco, após colonizar povos e territórios da Terra, tenta emplacar uma nova forma de colonização: invadir outros planetas. A ação estaria ligada à “fúria do homo sapiens” em “devorar”. “A gente perdeu o controle”. Sobre a Constituição de 1988, ele frisa: “Tem muito golpista manipulando esse documento. Virou um instrumento de manipuladores e negacionistas”.
As falas de Krenak parecem uma extensão daquilo que ele documenta nos livros “Ideias para adiar o fim do mundo”, “A vida não é útil” e “O amanhã não está à venda”. Decerto, também revela um tanto daquele menino que nasceu e cresceu no Córrego de Itabirinha, no Vale do Rio Doce, localizado no leste de Minas Gerais. Historicamente, a região é afetada pelos impactos socioambientais da extração mineira (como a contaminação de águas e solos com metais pesados e extinção de espécies), causados, principalmente, pela mineradora Vale.
A conversa com O POVO aconteceu na tarde de uma terça-feira ensolarada de 2022, quando a temperatura parecia mais elevada que o costume no Ceará. Dois dias após a entrevista, a temperatura máxima chegou a 37,4 °C no Estado, em índice do município de Redenção registrado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, os termômetros marcaram 32 °C.
A rapidez das mudanças climáticas, alerta a Organização das Nações Unidas (ONU), acontece, sobretudo, por conta da ação humana desenfreada na natureza. Tudo isso, segundo Krenak, está relacionado à caminhada acelerada da humanidade ao abismo.
Em silêncio, com aperto de mãos, Ailton Krenak cumprimentou a todos numa sala de eventos de um hotel à beira mar de Fortaleza. Sua entrada a passos vagarosos e sua calmaria ao articular as ideias contrastava com o barulho do vai e vem de carros, das sirenes de ambulâncias e de falas de transeuntes ao lado de fora da hospedaria.

O POVO - Como o senhor se vê no mundo?
Ailton - Me vejo no mundo como um menino que pega pulga em carro de boi, atravessa a serra dentro de um balaio em volta de um burro e, eventualmente, publica livros.
OP - Quando pensa em sua infância, o que vem à mente?
Ailton - O corpo dentro d’água, pelo menos até o joelho, andando devagarinho dentro d’água, para não espantar os bichinhos que picam, e passando uma peneira na beira do barranco para pegar peixinho. Porque é uma imersão, você sente o corpo na terra, o corpo na água. Isso desperta uma ideia de fricção com a Terra. A Terra é nossa mãe. Se não estivermos grudados nela, estamos perdidos.
OP - O senhor nasceu na região do Vale do Rio Doce…
Ailton - …Num córrego chamado Córrego do Itabirinha. Antes, a gente não estava tão moderno assim, com nomes de cidades, não tinha urbanização, então as pessoas nasciam na serra, no córrego. Era muito normal a pessoa se referir a alguém dizendo “Ah, o João lá da Serra do Espinhaço”, “Ah, o seu José que faz queijo lá na Serra do Cipó”. A geografia nomeava as pessoas. A minha biografia é relacionada com sítios dos lugares onde eu nasci e vivi. Me sinto muito identificado com isso, não tenho necessidade de outras identidades. As mulheres indígenas, durante a pandemia (da Covid-19), elas se movimentaram muito e fizeram uma marcha sobre Brasília que diziam: “Nossos corpos, nossos territórios”. Aquilo não é só uma chamada. É uma declaração de identificação física com o território. O território é muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui, com vocês, em Fortaleza, porque é um território que eu admiro à distância. A gente quase podia dizer: “Nunca te vi, sempre te amei”. Mas eu já vim aqui, vim na Bienal do Livro de 2018. Fui acolhido de uma maneira abençoada, gostei muito. A gente teve o interregno da pandemia, que deixou todo mundo congelado, uns até morreram. Alguns, sortudos, ficaram vivos. Então, eu voltei aqui.
OP - O senhor também se considera um sortudo por ter sobrevivido à pandemia?
Ailton - Me considero um sortudo toda manhã, quando acordo vivo (risos). “Nossa, eu tô vivo!”. Consigo ficar de pé, me mover, organizar o pensamento.
OP - Voltando um pouco à sua infância, quando o senhor se lembra de pensar “sou indígena”?
Ailton - Acho que minha circunstância de vida imprimiu isso na minha memória sem data para inauguração. É uma contingência. A gente nasceu fugindo do nosso território, invadido, perseguidos. Fomos agarrados, levados de volta. O território Krenak, na década de 1970 (em meio à ditadura militar), virou um “campo de reeducação”. Tinha um centro lá, chamado Reformatório Krenak, que era para punir índios rebeldes. Então, talvez, antes de pensar em uma identidade, a gente tinha que pensar como ficar vivo. E ficar vivo era afirmar uma identidade Krenak, indígena. A circunstância. Então, não teve um evento que inaugura esse sentimento. A gente nasceu dentro do fogo.
OP - Quando o golpe militar aconteceu, o senhor devia ter por volta dos seus 10, 11 anos. Toda essa formação da juventude, que molda muito a nossa vida, cresce nessa conjuntura de Brasil. Como foi crescer sendo indígena no contexto da ditadura militar?
Ailton - O povo Krenak fez contato com a cultura brasileira no começo do século XX. Está fazendo 100 anos. Até aí, todo mundo andava pelado na floresta, literalmente, igual aquela canção da Rita Lee, que ela fala que um dia ela queria ser índia e andar livre. Os Krenak foram livres até 1910. Quando entrou a década de 1920 do século passado, eles foram atacados violentamente, porque foi aberta uma estrada de ferro, Vitória-Minas, que é essa estrada de ferro que a Vale do Rio Doce implementou para extração de minério, e que o poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) passou a vida inteira apontando o dano que era aquilo para um lugar que chamava Florestas do Rio Doce, que é onde eu nasci e que o Drummond também nasceu. Eu tenho em comum com o Drummond a agonia de ver um rio ser mutilado até a lama da mineração de Mariana se despejar sobre 630 quilômetros do corpo do rio e chegar no mar, no Oceano Atlântico, passando na nossa aldeia, cauterizando a nossa aldeia. Depois de ser discriminado, torturado, sacaneado, investigado, a gente foi cauterizado pela lama da mineração em 2015. Estamos no sétimo ano do desastre monumental, de um crime ambiental reconhecido internacionalmente. Levamos a Vale a um tribunal internacional, ela está sendo julgada numa corte internacional, assim como outros genocidas que andam por aí. A gente continua formando a consciência do povo indígena, resistindo a um modelo de ocupação colonial que não respeita a vida.
Foi nesse tempo que eu formei meu pensamento sobre o Brasil, participei da Constituinte de 1987-1988, não com mandato por partido político, mas com mandato de 120 mil assinaturas de brasileiros em tudo quanto é região do País me dando um mandato para eu falar dez minutos no plenário da Constituinte de 1987. Aí, eu acho que meu pensamento sobre o Brasil já estava formado. Ele só continua se atualizando.
Então, a minha formação, dentro desse tempo de dureza, foi constituindo a pessoa que eu sou: um sujeito coletivo. Talvez um pouco da dificuldade de eu me referir a mim mesmo é porque eu entendo que eu sou produção coletiva de vida. Aprendi isso com muitas pessoas que me antecederam. Mário Juruna (1943-2002), por exemplo, foi o primeiro deputado indígena que as pessoas esquecem que fez isso de uma maneira imensa, quando a gente estava saindo da ditadura. Ele foi deputado, Figueiredo (1918-1999) ainda era presidente da República. Depois, veio Sarney. Foi nesse tempo que eu formei meu pensamento sobre o Brasil, participei da Constituinte de 1987-1988, não com mandato por partido político, mas com mandato de 120 mil assinaturas de brasileiros em tudo quanto é região do País me dando um mandato para eu falar dez minutos no plenário da Constituinte de 1987. Aí, eu acho que meu pensamento sobre o Brasil já estava formado. Ele só continua se atualizando. Mas eu descobri que o Brasil é genocida. Ele tem um cacoete de cachorro doido. Quando ele não está mordendo alguém, ele não consegue se acalmar. Ele só se acalma mordendo alguém, seja os negros, os quilombolas, os indígenas, os pobres. A periferia é o lugar preferencial dessa violência. Violência policial e social, como o racismo. Nos últimos dez anos, o Brasil descobriu que existe um racismo estrutural, que ele atravessa as instituições. Tem instituições que são de natureza colonial e elas aplicam o racismo como critério. Você vai pegar avião, você vê que os negros não andam de avião. O avião tá cheio de branco. Você entra num restaurante bom, interessante, em algum lugar, e está cheio de branco. Por que que nem indígena nem negros entram nesses lugares? Porque nós temos instituições que mantêm o racismo operante sem dar bandeira, o racismo cordial.
Essa fúria do sapiens foi se especializando até o ponto em que o humano transfere para máquinas, para a inteligência artificial, para o robô, aquela função que ele ainda não é capaz de executar. Então, ele manda um drone fazer, manda um robô fazer. Hoje, as máquinas estão ocupando, talvez, mais da metade das funções que eram exclusivas dos humanos, na agricultura, na saúde…
OP - O senhor aborda muito esses pensamentos nas suas autorias, nas suas publicações, fala muito sobre a relação do homem com o homem, do homem com a natureza e essa relação de colonização, de como o homem branco cisgênero, de uma maneira autocentrada, colonizou a sua própria espécie e territórios. Agora, a gente está vendo, também, a tentativa de colonizar outros planetas. Como o senhor vê isso?
Ailton - Eu vejo como um desenvolvimento longo de uma fúria do homo sapiens em devorar quem não é ele mesmo. Primeiro, ele devorou as espécies da mastofauna, a fauna grande, os bichos grandes. Ele caçava e comia. Depois, ele começou a criar bichos para ele comer, porque fica mais fácil. Comeu boi, comeu carneiro, porco, galinha, tudo. Tem até uma musiquinha que fala: “Comer, comer, comer, comer… É o melhor para poder crescer”. As mães cantam isso para os seus nenénzinhos para eles virarem ferozes, comedores de mundo. E eles crescem comendo o mundo. Depois que eles comem as florestas, aí eles comem os rios. Depois, eles comem o deserto. Por último, comem eles mesmos. Essa fúria do sapiens foi se especializando até o ponto em que o humano transfere para máquinas, para a inteligência artificial, para o robô, aquela função que ele ainda não é capaz de executar. Então, ele manda um drone fazer, manda um robô fazer. Hoje, as máquinas estão ocupando, talvez, mais da metade das funções que eram exclusivas dos humanos, na agricultura, na saúde… Eu tinha um amigo, um cirurgião muito excelente, que perdeu um emprego para o robô. Ele passou o conhecimento dele, a especialidade dele de cirurgião, para um software que programou uma máquina que agora faz a cirurgia melhor do que ele. Ele perdeu o emprego para um robô. Então, isso eu senti na minha amizade. Não estou falando de ficção científica. Na ficção científica, está cada vez mais animada a ideia de que nós não vamos precisar mais de milhões de pessoas trabalhando, porque eles vão todos perder o emprego para máquinas. Fico me perguntando: para onde eles irão, se eles perderem todos os empregos para máquinas? Será que eles vão morrer, será que eles vão virar adubo? O que será que eles vão virar? Agora, tem uns humanos nervosinhos na Europa ameaçando meter uma bomba em cima de uma usina nuclear que já vazou, que é Chernobyl. Se eles jogarem um míssil em cima daquilo, um pedação da Europa vai para o inferno. Eu não tenho boas notícias do mundo (risos).
OP - Há como a gente pensar em fórmulas para tentar reverter isso ou, se existe alguém pensando, não é mais tão suficiente?
Ailton - Nós, os humanos, perdemos a governança do mundo para as máquinas. Antes, a gente perdeu ela para o capitalismo, no sentido de mercadoria. Tem um pensador indígena, chamado Davi Kopenawa Yanomami. Ele é autor de um livro magnífico, “A Queda do Céu”. Ele não escreve, ele só fala. O amigo dele, Bruce Albert, escreve. Ele diz que a civilização perdeu a capacidade de sonhar, que ela só sonha consigo mesma. Então, o humano que sonha consigo mesmo, já morreu. Ele não é capaz de sonhar um outro mundo. Ele diz que é a humanidade, não são alguns não. Ele é radical. Ele fala o seguinte: o branco tem um sonho curto. Ele sonha como um machado jogado no chão. Você já pensou num machado jogado, assim, no quintal? Um machado sonhado? Ele falou que o branco sonha igual a um machado. O Davi Yanomami ainda está vivo, fazendo essas observações in loco.

Ele acha que, quando mexe na terra, tira ouro, petróleo, minério, a gente desperta energias que estavam estabilizadas dentro do corpo da Terra, mas que quando sai fora, produz um evento, correspondente ao que a gente chama de poluição. Quando você tira alguma matéria orgânica estável de algum lugar do planeta, você produz um deslocamento de energia. É por isso que tem a poluição do petróleo, tem o carbono. É por isso que a atmosfera do planeta está esquentando a ponto de torrar a gente. Algumas regiões do planeta vão ficar tão quentes que vão degelar tudo. E outras vão ficar tão frias que vai morrer, também, a possibilidade de organismos que iam viver naquele lugar do planeta. Então, o planeta está sofrendo um balanço grave. Ele pode decidir expulsar a gente daqui como espécie. Então, seria uma seleção natural o planeta Terra desaparecer com o homo sapiens e toda a sua linhagem estúpida. A Terra, a Gaia, é um organismo vivo. Durante muito tempo, quem afirmava isso eram os povos ancestrais. No final do século XX, começo do século XXI, se concebeu a Teoria de Gaia. Ela informa que a Terra é um organismo vivo, um organismo sensível e inteligente.
O cientista do clima Antônio Nobre diz que Gaia é sensível, inteligente e age em amor incondicional. O que é o amor incondicional de um mega organismo terrestre? Um planeta? O amor incondicional desse organismo é aquele amor que ao concluir que tem uma espécie que virou um dano, em favor de toda a vida, ele desliga aquela parte danosa. No caso, é o homo sapiens. Ele virou uma ameaça à vida no planeta Terra. Não é brincadeira. Infelizmente, é toda a espécie. Não dá para você dizer: “Não, aquele bilionário é uma ameaça à vida no planeta, mas aquele mendigo não”. O problema é que o mendigo e o bilionário querem a mesma coisa: comer a Terra. Se você soltar os dois numa corrida, eles vão chegar junto, comendo a Terra.
OP - Quais mudanças radicais a gente precisa ter para conseguir pensar nessa permanência?
Ailton - Tem uma expressão que algumas pessoas usam: “Freio de mão”. É quando você breca e para tudo. A gente perdeu a oportunidade de fazer isso na década de 1980, quando os cientistas fizeram o primeiro anúncio das mudanças do clima. E fizeram uma antecipação de que a gente tinha 30 anos para parar o trem. A gente não freou. A gente acelerou. Tem uma hipocrisia grande nisso. Porque, se a gente sabe que as coisas vão acabar, e nós estamos acelerando, é porque alguns de nós atina com alguma vantagem sobre a destruição do mundo. Se o mundo acabasse agora, alguns bilionários iam fugir do planeta para outro lugar. Esse mundo iria acabar para nós. Para eles, não. Esses caras que ficam na lista dos maiores bilionários, trilionários… Aqueles que dão a volta na órbita da Terra de foguete e voltam depois como se tivesse ido fazer um cruzeiro, consideram que o espaço é um lugar de investimento financeiro. O cara que tem trilhões, ele acha que aqui na Terra não tem mais lugar para ele investir e ampliar sua fortuna. Então, ele vai fazer isso no espaço. Em Marte, por exemplo. A primeira vez que escutei que tinha um projeto da Nasa em associação com grandes bilionários e que o objetivo deles era colonizar Marte, pensei que era um roteiro de ficção científica. Daí, apareceu aquele cara da Tesla, apareceu o cara da Amazon, o próprio Bill Gates, os caras do Facebook. Os anjos do Vale do Silício, como diz a canção do Caetano, estão orquestrando uma decolagem da Terra e largando nós, os mortais, aqui. Para a gente dissentir como vamos sobreviver.
As nossas constituições republicanas não admitem divergências. Os jovens, agora, estão lidando com um documento que ficou velho. E tem muito golpista manipulando esse documento. A Constituição virou um instrumento de manipuladores e negacionistas. Os negacionistas conseguem pegar aquele documento e transformá-lo num “anti documento”.
OP - O senhor falou sobre a década de 1980, sobre como a gente deveria ter brecado, freado um pouco, porque daria para pensar em mudanças, pensando nesse futuro que é o agora. No mesmo período, a luta indígena reivindicava a criação de uma lei que protegesse o seu povo e os seus territórios. Agora, as novas gerações precisam manter esse direito e conseguir que as terras sejam reconhecidas. Como o senhor pensa a manutenção desses direitos da década de 1980 para cá?
Ailton - Na década de 1980, o pensamento político sobre nações, países, independente de serem repúblicas do terceiro mundo, era uma ideia de que o pacto social devia ser preservado, protegido. É nesse contexto que foi feita a Constituição. É uma espécie de um contrato social renovado, para a gente respeitar ele. Agora, no século XXI, tanto a ideia de país quanto a ideia de nação está muito diluída. Lá no Chile, está avançando uma proposta de refundação do estado colonial espanhol que ficou lá e a instituição de uma sociedade plurinacional. Sem esse papo de nação, onde o povo que habita aquele território vai fazer um contrato social plural, que respeita as divergências, as diversidades mesmo. Está prevista a divergência. As nossas constituições republicanas não admitem divergências. Os jovens, agora, estão lidando com um documento que ficou velho. E tem muito golpista manipulando esse documento. A Constituição virou um instrumento de manipuladores e negacionistas. Os negacionistas conseguem pegar aquele documento e transformá-lo num “anti documento”. Quando eles querem, eles insistem e respeitam aquela Constituição, destituiem uma mulher da Presidência da República (Dilma Rousseff), faz um impeachment dela, prende um ex-presidente da república (Lula), condena o cara quase que à morte e depois solta. E a Constituição fica por isso mesmo, porque os bandidos que manipulam a Constituição estão acima da lei. Parece uma narrativa simples de entender, mas o senso comum não entende isso. O senso comum gosta de assistir novela.
OP - Assistir à novela interfere nesse entendimento?
Ailton - Profundamente, porque supõe que você prefere uma narrativa fajuta da vida do que conhecer a vida e assumir responsabilidades, ser um cidadão. O Pepe Mujica (ex-presidente do Uruguai) diz: “O mundo não quer cidadãos, o mundo quer consumidores”. Eu acrescentaria uma observação: o mundo que nós estamos vivendo não quer cidadãos, quer clientes. Cliente fidelizado. A companhia aérea, a marca de roupa, a marca de sopa quer que você seja fiel. Isso é ser imbecil. Você prefere assistir uma novela porque não quer ver a realidade ao seu redor. O ladrão leva o jardim, as flores e tudo. Você fica numa cadeira, assistindo novela. Alienação. É uma sociedade alienada. Manipulação em massa. É um pacote.

OP - Isso seria não só na política partidária, mas na política como um todo, não é?
Ailton - A governança de tudo, da economia, da educação, da cultura. Faz muito tempo que a educação é uma máquina de reproduzir clientes para o banco, para a empresa, para o mercado e não cidadão. Nem a educação no nosso País forma cidadãos mais. Forma clientes. Não só o sistema particular, mas o ensino público também. O professor Paulo Freire (1921-1997), mestre, dizia que a gente precisava evitar a educação bancária, que é você formar milhares de jovens para um emprego, para ir trabalhar no banco, no supermercado, apertar o botão. Então, você aprende operações básicas de matemática e alguma coisa de português e vai para o mercado de trabalho. Uma espécie de escravo esclarecido. Em vez de você agarrar o cara e vender ele, você agarra o cara e prepara ele. Depois, você solta e ele vai buscar, voluntariamente, um patrão.
O capitalismo tem a obrigação de fazer essa compensação pelo assalto que ele já fez à vida no planeta e parar de sugar o planeta. É uma espécie de moratória. Para de sugar o planeta! Dê condições para as pessoas que estão flageladas se realocarem no planeta. Aí vamos ver se a canoa cabe todo mundo.
OP - O que seria hoje, para o senhor, um sistema educacional que faça a gente entender como viver e estar nesse mundo?
Ailton - Talvez ele não deva ser regionalizado. Deveria ser universal. Mesma coisa que um menino aprendesse no Afeganistão, deveria aprender aqui ou na China. Porque já que o capitalismo é global, por que a educação é fragmentada e regionalizada? Para a gente ficar em desvantagem com o capitalismo. Quando você desperta a sua capacidade de ler o mundo, não fica subjugado pela educação bancária, você consegue compreender o mundo de uma maneira fluente. Tenho pensado que, no Ocidente todo, nós, também ocidentalizados, fomos convertidos, como se fosse uma religião, de que o capitalismo é a única maneira da gente respirar na Terra. Se o capitalismo é a única maneira da gente respirar na Terra, essa ilusão está valendo para todo mundo, a gente deveria, pelo menos, ser prático e dizer: tá bom, então nós vamos ter uma educação no planeta inteiro para todo mundo. Vamos ter uma renda básica universal para todo mundo no planeta inteiro. Ninguém vai morrer porque não tem o que comer ou um abrigo ou alguma condição essencial para viver. O capitalismo tem a obrigação de fazer essa compensação pelo assalto que ele já fez à vida no planeta e parar de sugar o planeta. É uma espécie de moratória. Para de sugar o planeta! Dê condições para as pessoas que estão flageladas se realocarem no planeta. Aí vamos ver se a canoa cabe todo mundo. É uma tentativa de criar alguma possibilidade da gente produzir outras maneiras de estar vivo na Terra. Se a dinâmica capitalista não cessar, a gente vai destruir isso aqui rapidinho. Nós vamos ser extintos.
OP - Isso tudo se intensificou ou resultou em uma pandemia, que a gente viveu e ainda vive há mais de dois anos. Como o senhor vê esse cenário de pandemia e toda essa situação que a gente viveu de busca de vacina?
Ailton - Fiquei assustado com tudo isso. Depois, obedeci o comando de ficar quieto. Fiquei durante dois anos na minha aldeia, sem sair de lá. Aproveitei para pensar e me aproveitar desses meios de acesso à informação para buscar entender o que estava acontecendo com a gente. A pandemia foi apropriada de uma maneira muito oportuna pelas corporações que acelerou a atividade capitalista global. Os muito ricos ficaram mais ricos. Os muito pobres, empobreceram muito mais. Me lembrou um sermão que atribuem a Jesus. Quando Jesus andava aqui na Terra, ele vivia uma vida de humano, tinha que comer, beber e dormir. Um ser humano. Ele falou com os discípulos dele, com a audiência dele, um enigma que prevalece até hoje. Aos que tudo tem, muito será dado. Aos que nada têm, até o que não tem será tirado. O que será isso? Que enigma é esse?

OP - Da desigualdade?
Ailton - (Balança a cabeça concordando). Quem tem, se entope cada vez mais de tudo. Quem não tem, pede esmola na rua com um cartaz pedindo: “Me dá 10 centavos, me dá um marmitex, me dá um remédio, estou com fome”. Então, não estou falando uma caricatura da nossa realidade. Estou descrevendo a realidade, como um repórter. Só que tem gente que se me ouvir assim, na nossa conversa, eles vão dizer: “Você está exagerando, carregando na tinta. Por que você não faz uma proposta alternativa a esse mundo tão duro? Você tem coragem de convocar até Jesus, com uma profecia antiguissima? Caramba, mas isso é muito”. Mas isso é o que está acontecendo, gente. O cara da Amazon ganhou tanto dinheiro durante a pandemia que, basicamente, duplicou a fortuna dele. O Bill Gates também. Encheu o rabo de dinheiro durante a pandemia. A indústria de automóveis e equipamentos de luxo bombou, vendeu absurdamente. Quem perdeu foi a Terra. Os mares estão cheios de lixo. Os oceanos viraram montanhas de pet. Você encontra tartarugas e baleias com bolos de plástico dentro do estômago, morrendo intoxicada nos oceanos. O petróleo está vazando para todo lado. Até nas plataformas continentais do Brasil tem petróleo vazando de dentro da rocha para os oceanos. Nós estamos empesteando o planeta.
O homo sapiens deu metástase. Ou, o homo sapiens é a peste dele mesmo. Como a gente faz para mudar isso? A gente perdeu o controle. Não tem mais receita. Agora, é “Deus dará”. Estamos ao Deus dará. Tem alguns filósofos muito, muito otimistas, que diz que esses processos tecnológicos, essas coisas todas, ainda pode sofrer uma espécie de um bug, parar tudo, e o que sobrar ficar diante de um dilema tão grande que muda todo o paradigma civilizatório, no planeta inteiro, e a gente vai viver uma outra vida, como comunidade humana. Provavelmente, fora desses núcleos urbanos, longe das cidades. Porque as cidades vão se tornar lugares insustentáveis. Porque vai ser o lugar onde a crise e o desastre ecológico vai se chocar contra a demanda de uma população humana crescente que precisa de comida e abrigo. A cidade não oferece isso. Então, as pessoas vão “dar no pé”, para o que chamam de campo, natureza.
Aprender a viver de novo com natureza, não viver da natureza. Os humanos foram condicionados a viver da natureza. Não foram ensinados com a natureza. Para aprender a viver com a natureza, talvez, ainda vai ter que sofrer um dano monumental. Um desastre muito maior do que a pandemia. A pandemia podia ser uma oportunidade para a gente refletir e pensar, mas foi uma oportunidade de aumentar as fortunas de quem já tinha e tornar mais pobre quem tinha nada.
OP - Em suas publicações e palestras, o senhor fala que essa aproximação do homem com a natureza tem que ser pensada também de uma forma transcendental, que vai além de uma sobrevivência biológica. O senhor poderia falar um pouco sobre o poder da floresta, o poder da mãe Terra como algo espiritual, que transcende essa nossa necessidade de materializar as coisas?
Ailton - Provavelmente, há uns dez mil anos atrás, a humanidade sabia fazer isso. Ela tinha manha, tinha tecnologia adequada para estar aqui na Terra, prosperando, sem entrar em choque com o organismo vivo da Terra. A gente foi se afastando até a gente operar, literalmente, um divórcio, entre o nosso corpo e o corpo da Terra. Então, o nosso corpo não conhece mais o corpo da Terra. O corpo da Terra pode, em algum momento, nos deixar órfãos. Cortar o papo com a gente. E dá um “foda-se”.
OP - Sobre a questão do humano e do sub-humano… Ao longo da história, há um homem branco cisgênero, que é esse colonizador, que encaixota normas, em que outros humanos de sua espécie são considerados sub-humanos: indígenas, pretos, pobres, pessoas trans…
Ailton - No geral. A Ásia inteira, a África inteira. O mundo muçulmano inteiro. 70% da humanidade não atende os requisitos de humanidade. São sub-humanos. É por isso que a gente bombardeia o Iraque, o Irã, a Síria. "Mete bomba neles, não são humanos”. Pega o (inseticida) Baygon e “shhhh” (som de spray aerosol). Dizem que o Trump (ex-presidente dos Estados Unidos da América), diante da mobilização Black Lives Matter, “As Vidas Negras Importam”, ele teria dito para os chefes de polícia: “Vocês não conseguem atirar na perna deles?”. Ele ia produzir uma geração de pessoas paraplégicas por pura vaidade. Eles pensam assim sobre o resto de nós. Tipo assim: “É escandaloso dar uma metralhada na cabeça, roça a perna deles”. Depois, o sistema de saúde vai cuidar. Ele acha que é um "sustinho" você amputar a perna de alguém com bala. Esse tipo de pensamento está no poder, não é periférico. Ele é central. Ele decide quem é humano e quem é sub-humano.

OP - Como o senhor pensa a democratização da informação pelos dispositivos móveis?
Ailton - Seria uma maneira positivada de olhar que nós estamos todos imersos nesse mundo digital, de tecnologia de informação e cruzamento de mídias. Na verdade, nós estamos sendo comidos. A ideia de democratização da informação é parte essencial do modo de reprodução capitalista. Não dá para você fabricar um iPhone, você tem que fabricar bilhões de iPhone. Então, todo mundo precisa ter um. A tecnologia não precisa mais da gente para ordenar o ritmo de novidade dela. Ela produz o ritmo de novidade dela sem a nossa participação. É terrível você chegar nisso. A nossa vida está programada. Ela começa a programar a gente. Produzir desejos na gente. Por isso, nós estamos drogados, viciados nela. Falo nós como uma disposição de reconhecer que outros seres humanos podem, também, estar atinando com esse grave problema. Mas 99% não sabe. Eles estão fazendo isso e não sabem. Vivendo isso e não sabem. Um modo de estar no mundo onde o humano se permite uma fuga de tudo o que está acontecendo e habitar uma bolha. Novela é uma bolha. Whatsapp, Facebook, essas mídias todas são bolhas. Só que essas bolhas estão todas em rede, sabendo o que você pensa. Ela já sabe o que você pensa, já escolheu o que você vai comer, o que você vai comprar.

OP - Já que o senhor falou da novela, lembrei das gravações da minissérie “O Cerrado e outros Bichos”. Na segunda temporada, que sucede a primeira, “O Pantanal e Outros Bichos” (Amazon Prime), o senhor interpreta o Nonda. Pode falar um pouco sobre o personagem?
Ailton - O tempo inteiro aqui eu estou pensando no Nonda. Quando a gente falou, por exemplo, dessa coisa da tecnologia começar a induzir a gente, eu acho que muito poucos humanos escaparam desse contágio. Já que estamos falando de Covid, de pandemia, alguns seres humanos, por alguma razão transcendental, escaparam desse contágio da drogação da tecnologia. Tem sentido imaginar o Nonda como um desses. O personagem que fui convidado a fazer existe há cerca de 400 anos. A primeira aparição dele social no mundo foi no meio do povo asteca. Lá entre os astecas, havia um xamã, um homem, chamado Nonda. Ele viveu no México. Depois, migrou para os Andes, foi para Machu Picchu.
Depois, ele passou mais uns 100 e tantos anos entre o Equador e a Terra do Fogo, vivendo a experiência geológica vinda da Terra e de povos que passaram. A invasão colonial. Ele viveu tudo isso. E ele desenvolveu um poder de transmigração. O Nonda tem 400 anos, mas ele pode ser eu, agora, falando aqui. Essa consciência transcendente, que tem a capacidade da transmigração, escapa ao vício da tecnologia. Mas exatamente porque ela não está territorializada. Ela atravessa o tempo de um lugar para o outro.
A aparição dele é uma chamada de uma bisnetinha dele, uma indinha, que conversando com os coleguinhas dela, falam: “A única maneira da gente vencer esse monstro tecnológico é invocando a presença do meu bisavô”. Eles falam com ela: “Mas como? Ele não existe mais”. Ela fala: “Ele existe, ele só não está aqui”. Mas, se a gente chamar, ele se materializa aqui. Os meninos não acreditam que ela é capaz de fazer isso, mas eles estão envolvidos com o Saci-pererê, com o Curupira, com outras entidades mágicas que o mundo da infância mobiliza quando precisa fazer alguma coisa mágica. A menininha chama o Nonda, esse bisavô, que sou eu.
A primeira aparição dele é dentro de uma caverna, sentado numa esteirinha, como se estivesse meditando. Ele atravessou o tempo, as muralhas todas, e chega livre num lugar, conversa com as crianças, acredita no que elas estão dizendo e assume a liderança de enfrentar o mal que quer destruir a vida no planeta Terra. O poder que ele tem é que quando ele se concentra intensamente, a luz do sol ocupa o lugar da cabeça dele. A face dele, para onde ele vira, é incandescente, como o núcleo do sol, incinera aquela treva que está na frente. Como o vilão quer fazer o Cerrado virar um lugar cinzento, triste, a hora que ele tenta fazer isso, o Nonda manda os raios solares dele e incinera aquela peste e restaura um mundo, de novo, onde a mãe Terra flui, tem vida, tem espécies. É uma fantasia sobre as crianças agindo em favor da mãe Terra. Gostei muito. Foi a primeira vez que fiz um personagem que não sou eu mesmo.
OP - Para finalizar, como o senhor avalia o Brasil, nesse ano de eleição, 2022?
Ailton - Vamos buscar uma imagem? É uma briga de galo, pobre e suja. Não consigo mais pensar no País em termos dessa dinâmica política colonial. Partidos políticos, fundo de campanha, roubalheira, banditismo, milícias… Tudo no mesmo saco. Não consigo, para mim isso é um chiqueiro. Uma rinha de briga de galo. Eu tô fora.
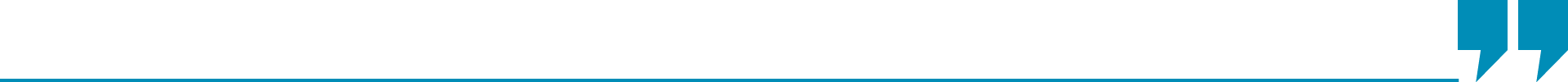
Grandes entrevistas


