
Eduardo Jucá é médico, professor universitário e palestrante. Neurocientista, é o único médico no Ceará com dedicação exclusiva à neurocirurgia pediátrica. Lidera a única equipe cearense a atuar com cirurgia intrauterina e ficou conhecido nacionalmente por ter integrado a equipe que separou, em Ribeirão Preto (SP), em 2018, duas gêmeas siamesas cearenses que nasceram coligadas pelo crânio.
Coordenador e professor do curso de Medicina da Unifor, professor do Mestrado em Inovação e Tecnologia na Saúde na UniChristus e pesquisador, traz a docência e o exercício da Medicina como atividades indissociáveis. Correlaciona os vínculos entre os pares professor-aluno, médico-paciente e pai-filho como elos indissolúveis, azeitados pela confiança e pelo respeito.
Insiste que Medicina é ciência e caridade, é saber aliar a técnica à dedicação, é unir o conhecimento ao cuidado afetuoso. É um homem cartesiano, natural pelas funções que ocupa, mas por isso mesmo reforça o quanto a humanização na prática e o respeito ao paciente são fundamentais ao lidar com assuntos tão densos — principalmente ao comunicar aos pais sobre uma doença complexa do filho, situação com a qual tem de lidar cotidianamente.
Amante da literatura, vê nos livros, num passeio entre clássicos e modernos, um respiro das tensões, um deleite necessário, mas também uma referência para os casos que acompanha. A paixão é percebida ao correr a vista pelas paredes de sua biblioteca, coloridas, de alto a baixo, pelo dorso de obras diversas. Filho de professores, começou desde criança o gosto pela leitura. Não à toa pediu o empréstimo de personagens de Machado e Alencar para batizar as gatas de estimação,
É torcedor do Fortaleza, tema que o unia à família e aos amigos enquanto estudava na USP. Hoje o time continua sendo ligação — desta vez, entre o seu perfil introvertido no meio de duas gerações extrovertidas, o pai e o filho, com quem divide as idas aos estádios. E ratificando as conexões, faz uso da neurociência para explicar o amor pelo Tricolor. Narrativas construídas sob o verniz da memória afetiva.

O POVO – Como o senhor decidiu ser médico?
Eduardo Jucá – Sempre gostei muito dos conteúdos de Biologia, ao mesmo tempo tentando fazer uma conexão entre o conhecimento e o fazer, o relacionar-se com as pessoas, vendo de que modo a gente poderia mais contribuir com a vida das pessoas se utilizando dessa ciência, desse conhecimento biológico. Me lembra um pouco do quadro do Picasso que tem o título chamado “Ciência e caridade”, da fase mais antiga do (pintor espanhol Pablo) Picasso. É a cena de um médico cuidando de um paciente acamado. A Medicina é justamente essa junção, o conhecimento científico, biológico, que atrai por si só, com a possibilidade de melhorar a vida das pessoas, e a caridade, que tem essa raiz grega, do “caritas”, do amor que é a forma de a gente se relacionar fazendo o bem às pessoas. Não tenho nenhum parente médico, só um tio-avô, que morava em outra cidade, mas não tive referências de médico na família.
OP – E no curso, como o senhor foi para a neuropediatria?
Eduardo Jucá – Já dentro do curso de Medicina, na USP, tive os primeiros contatos com o cérebro, com o sistema nervoso. Foi uma paixão fulminante intelectual pelo assunto. Como a gente pode conhecer um tema que explica tudo o que gente faz? Explica os relacionamentos, a aprendizagem, é um metaconhecimento. Conhecendo ele, a gente aprende como é que a gente conhece. Ele está na base da própria
Conheci o professor Hélio Machado, na USP, e ele me aceitou como discípulo, jargão que a gente usa no meio acadêmico. Fomos trabalhar juntos e ele disse: “Eu sou neurocirurgião de criança”. Ele é um dos pioneiros no País. Fui fazer pesquisa, trabalho, ter mais contato com a neurocirurgia pediátrica, fiz estágio ainda na graduação na França nessa área, que é um país referência no assunto. Fiz em um hospital exclusivamente pediátrico. E continuei ao longo da vida com a neurocirurgia pediátrica como uma causa, uma bandeira. Vivi muito tempo em Ribeirão Preto (SP), fiz a graduação, o doutorado, o PhD, e comecei a trabalhar como médico na USP. Sempre com a vontade de voltar à terra natal e retribuir tudo o que eu tinha tido de oportunidade.
OP – O senhor não pensou em ficar lá, em São Paulo?
Eduardo Jucá – Pensei por algum tempo e até pensava que não tinha mais volta. Mas a gente vai amadurecendo e pensando: eu poderia retribuir tudo o que tive de oportunidade na minha terra. E o campo de neurocirurgia pediátrica aqui era praticamente desconhecido. Havia a neuropediatria, que é a neurologia clínica das crianças, mas a neurocirurgia pediátrica era muito estabelecida em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros países... Em Fortaleza, não existia essa diferença.
OP – E os pacientes daqui iam para onde? Para São Paulo?
Eduardo – Alguns, sim, mas boa parte ia sendo tratada por excelentes colegas neurocirurgiões gerais que também tratavam crianças. Até hoje eu sou o único de dedicação exclusiva a criança e adolescente. Claro que há outros colegas que trabalham no (hospital Albert) Sabin que têm como parte de suas atividades operar crianças, mas a gente assumiu essa missão de difundir aqueles conhecimentos específicos da neurocirurgia pediátrica, mostrando que temos técnicas próprias, revistas científicas próprias, sociedades próprias.
OP – O senhor recebeu algum convite para vir ou entendeu que já havia encerrado seu ciclo lá?
Eduardo – Não recebi, foi realmente a vontade de se reintegrar à terra natal, de poder atuar com as crianças da cidade, do Estado. A gente sabia que havia tanta necessidade e abraçamos como uma missão. Tem sido absolutamente gratificante.
Até hoje eu sou o único de dedicação exclusiva a criança e adolescente. Claro que há outros colegas que trabalham no (hospital Albert) Sabin que têm como parte de suas atividades operar crianças, mas a gente assumiu essa missão de difundir aqueles conhecimentos específicos da neurocirurgia pediátrica, mostrando que temos técnicas próprias, revistas científicas próprias, sociedades próprias.
OP – O senhor lida com temas muito complexos, a hidrocefalia... Como o senhor enfrenta essas questões e não somatiza?
Eduardo – Tem razão. Às vezes estamos com uma criança, por exemplo, na enfermaria em uma festinha de Páscoa, de Natal, de Dia das Crianças, e dali a poucos dias estamos operando essa criança e depois convivendo com ela na enfermaria. Realmente é muita coisa misturada, a parte técnica e a humana. Mas não são contraditórias. Pelo contrário, elas precisam estar complementares. Na hora em que você atua cirurgicamente sobre o cérebro de uma criança, você tem de ter todo o respeito e honrar aquilo que faz o ser humano aquilo que ele é e como ele se comporta. Qualquer atitude inadequada ali pode deixar sequelas pelo resto da vida. É preciso ter, por um lado, o respeito ao ato, e, por outro, a serenidade para poder executar o gesto técnico.
OP – E de onde vem essa tranquilidade? Como o senhor mantém?
Eduardo – Preparação de estar bem consigo mesmo, com alimentação, sono, meditação, no sentido de adquirir a prática em técnicas que facilitem deixar os problemas do lado de fora da sala de cirurgia. E sobretudo muito respeito pelo cérebro da criança. É uma área tão à parte que existe uma sociedade brasileira própria, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica
OP – Além do cuidado com a criança, tem uma fase anterior, que é o contato com os pais, os responsáveis, e exige mais delicadeza do que o habitual. Como é essa abordagem para dizer que o filho tem um diagnóstico de algo muito sensível?
Eduardo – O que a pessoa tem de mais importante não é a própria vida, é a vida do seu filho. E uma coisa comum a todo pai e toda mãe — eu mesmo já experimentei isso na vida pessoal — é que qualquer coisa que aconteça com o seu filho você tem o desejo que fosse com você. Você começa a entrar com negociação com o plano superior: coloque isso aí em mim. E nestas comunicações, existe técnica, sim. É a técnica de comunicação de má notícia, algo que em décadas passadas não era ensinado nas faculdades. Hoje em dia, sim. Porém, há também muito do lado humano de sentir como aquela família quer ser informada e ir tateando a passagem da informação. É preciso ao mesmo tempo passar a dificuldade do caso, mas não alarmar no sentido de pânico. É preciso mostrar o caminho. Sempre há um caminho. Dificilmente a gente vai encontrar um caso que nunca houve semelhante.
Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro encontro, até me emociono. O impulso que a gente tem é sempre dizer: vamos tentar, a partir de agora a gente é uma equipe, a gente joga junto. Vocês vão passar por esse caminho uma vez na vida.
OP – Mas aconteceu, né? Aquele caso das gêmeas siamesas cearenses unidas pelo crânio foi inédito no Brasil.
Eduardo – Sim, nunca havia havido nenhum caso semelhante no Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro encontro, até me emociono. O impulso que a gente tem é sempre dizer: vamos tentar, a partir de agora a gente é uma equipe, a gente joga junto. Vocês vão passar por esse caminho uma vez na vida. Do lado de cá, a gente já passou algumas vezes. Não é um caminho de linha reta, é um caminho cheio de curvas, e a gente está aqui para tornar o caminho mais suportável possível.
OP – Como o caso chegou até vocês?
Eduardo – Elas nasceram em Fortaleza, em outro hospital da rede pública, não houve um contato prévio conosco. E no pré-natal já havia sido diagnosticado, mas não houve contato prévio com a equipe de neurocirurgia. Como o Sabin é referência no Estado e costuma receber casos até de estados vizinhos, elas foram encaminhadas para lá, e tivemos o primeiro contato. Era o primeiro caso do Brasil. A equipe médica sem ter o caminho definido, imagina a família... Elas nasceram em 2016. Fizeram dois anos no meio do tratamento. A gente sabia de alguns casos do mundo que tinham sido conduzidos com sucesso. E a gente propôs à família: vamos tentar? Vamos tentar!
No começo da história das tentativas de separação de siamesas unidas pelo crânio, nas décadas de 1940, 50, isto é o que era feito: sacrificar uma. Hoje em dia, isso seria inadmissível, por razões bioéticas, e ainda bem que seria inadmissível.
OP – Quais eram os riscos ali?
Eduardo – No começo da história das tentativas de separação de siamesas unidas pelo crânio, nas décadas de 1940, 50, isto é o que era feito: sacrificar uma. Hoje em dia, isso seria inadmissível, por razões bioéticas, e ainda bem que seria inadmissível. Você tem o dever de procurar salvar ambas. E decidi na época levar para o local onde eu tinha feito a formação, na USP em Ribeirão Preto. Tinha a convicção, e tenho ainda, de que é um grande serviço de neurocirurgia pediátrica e teria mais condições de fazer o tratamento com sucesso. A experiência de lá também era zero, mas havia um pouco mais de recursos. Decidimos chamar uma ajuda dos Estados Unidos, o nosso amigo James Goodrich, médico, que havia sido a pessoa envolvida em mais casos bem-sucedidos no mundo. Ele tinha operado oito casos. Era a maior experiência do mundo.
OP – Foram várias cirurgias.
Eduardo – Sim, e o Goodrich foi extremamente generoso. Veio cinco vezes, para reunião de planejamento e para as quatro cirurgias. A primeira, em fevereiro de 2018. E a última, em outubro de 2018, no dia da eleição. Enquanto o País todo estava dividido, a gente estava ali, todo mundo junto, para poder separar duas pessoas.
OP – Vocês tinham a convicção de que iria dar certo?
Eduardo – Se a gente não tiver isso em qualquer cirurgia, a gente não tem a energia para ir em frente. Em qualquer cirurgia que a gente faça, se não houver a convicção de que vai dar certo, de que alguma coisa que nos mova diante de algo tão antinatural quanto fazer uma incisão e abordar o cérebro de uma criança, a gente não vai em frente. A equipe estava confiante. E o planejamento foi muito intenso, havia modelos tridimensionais que o Goodrich trouxe dos Estados Unidos, baseado nos exames delas. A quarta cirurgia começou às 7 horas e terminou às 3 horas da manhã do dia seguinte. A separação mesmo, lembro como se fosse agora, foi às 9 horas da noite, mas continuou até as 3 horas da manhã com o fechamento. E tudo planejado milimetricamente, até a separação das mesas — quando separasse, para onde cada mesa iria rodar de modo que não atrapalhasse a outra, que equipe ficaria com cada uma para fazer o fechamento... Há uma frase do professor Hélio Machado que eu levo sempre: “Tem que sair de casa com a cirurgia feita, só precisa executar”. Ou seja, você tem que sair de casa tendo se debruçado sobre os exames de imagem, considerado cada risco, cada material que vai utilizar. Chega lá, é só executar.
OP – O senhor fala no plano superior, numa certa energia consciente antes de um procedimento cirúrgico complexo. O senhor acredita em Deus?
Eduardo – Sem dúvida. Quando a gente entra nesse assunto, a primeira palavra que aparece é respeito, a todos os modos de acreditar e até por quem diz não acreditar. Na hora em que você tem a convicção de que o mundo não é só isso aqui, não é só a matéria, que há uma transcendência, a transcendência é Deus. Seguir o receituário de uma religião específica também exige respeito a todas as opções. Eu tenho a minha. Sou cristão católico. Tenho os meus líderes dentro da religião que admiro muito, o papa Francisco; no contexto local, o padre Eugenio Pacelli (sacerdote, diretor do Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité), que fez o meu casamento, o batismo dos meus filhos e é de um carisma impressionante.
Não posso acreditar num medicamento que vá salvar da pandemia sem uma comprovação científica. Não posso usar a fé para tomar uma decisão cirúrgica. “A gente vai fazer isso mesmo sendo imprudente e Deus vai resolver”. Não. Nos assuntos da ciência, eu devo ter comprovação científica.
OP – Mas, às vezes, não há uma contradição entre a ciência e a fé, a Medicina e a religião? Qual é o limiar?
Eduardo – Não há contradição. São campos diferentes. Não se deve procurar comprovar as coisas da fé com base na ciência, porque não é o mesmo referente, o mesmo idioma. Da mesma forma, não devo tratar das coisas da ciência com fé. Não posso acreditar num medicamento que vá salvar da pandemia sem uma comprovação científica. Não posso usar a fé para tomar uma decisão cirúrgica. “A gente vai fazer isso mesmo sendo imprudente e Deus vai resolver”. Não. Nos assuntos da ciência, eu devo ter comprovação científica. São campos diferentes, não se misturam, mas não se contradizem, podem ser complementares. Quando eu tenho uma doença do cérebro, para qual das duas eu devo apelar? No tratamento da saúde, médico, para a ciência. Na esperança da cura, na luta em obter a restauração da saúde, apelar para a fé.
OP – Esse negacionismo que a gente tem vivido de uns anos para cá não coloca em xeque as regras da neurociência?
Eduardo – Sem dúvida. É muito difícil a gente se apaixonar por opiniões. E o negacionismo vem daí — ter uma verdadeira paixão pela opinião e não aderir às evidências científicas que se apresentam diante de si mesmo. A neurociência explica isso. A tomada de decisões tem um processamento numa área importante do cérebro, que é a pré-frontal, em que preciso ter equilíbrio entra a razão e a emoção. Se eu deixo a emoção de maneira desbalanceada, desequilibrada, tomar conta do processo de julgamento, eu terei essa refratariedade às evidências científicas. Muita gente acha que a boa decisão é aquela estritamente racional. Não é. É aquela que equilibra a razão e a emoção.
OP – O senhor divide boa parte da sua vida entre o consultório e a Academia, como médico e professor. Onde o senhor mais se realiza?
Eduardo – É algo indissociável. A gente ensina, na Medicina, neurociência, neurocirurgia para os estudantes de graduação e para os residentes, que já são médicos formados se especializando em neurocirurgia. A assistência e o ensino se misturam muito. Quando eu ensino, por exemplo, uma conferência na universidade, estou sempre me referindo à prática. E a gente puxa da experiência pessoal. A situação fica imbricada. Quando se coloca a pesquisa junto, aí fica ensino, assistência e pesquisa, você faz o tripé universidade. Ensino, pesquisa e extensão no sentido de assistência, de ultrapassar os muros da Academia. A vida universitária atrai tanto porque oferece essa diversidade de atuações. Você pode atender a população, ensinar as próximas gerações, e isso é extremamente gratificante. Primeiro, porque não há melhor método de você aprender do que ensinar. Segundo, é uma forma de retribuição do que você recebeu de maneira tão generosa dos seus próprios mestres. E é uma forma de se manter constantemente atualizado.
Mas é preciso, sim, que no curso de Medicina, na faculdade, a gente direcione cada vez mais, de maneira enérgica, o conhecimento bioético, o respeito ao paciente, o respeito ao colega, e que dessa forma a gente venha a reduzir situações de quebra de relação, de abuso e de crime mesmo.
OP – A gente tem visto recorrentemente casos que questionam a relação médico e paciente, como casos de violência médica, de assédio sexual, moral. O problema é na formação médica?
Eduardo – Em parte. Haverá casos em que a própria formação ética, que antecede a formação profissional, que vem de formação familiar, em casa, é tão desvirtuada que dificilmente você vai remediar na faculdade. Mas é preciso, sim, que no curso de Medicina, na faculdade, a gente direcione cada vez mais, de maneira enérgica, o conhecimento bioético, o respeito ao paciente, o respeito ao colega, e que dessa forma a gente venha a reduzir situações de quebra de relação, de abuso e de crime mesmo.
OP – Resquícios, vestígios de alguma psicose podem ficar evidentes durante a formação médica?
Eduardo – Podem ficar, sim. Daí vem a responsabilidade muito grande dos professores, que estão em contato muito próximo com os estudantes, de identificar esses casos que podem resultar em má prática no futuro. Uma coisa eu posso garantir: hoje em dia a proximidade do professor com os estudantes é muito maior do que era décadas atrás. É uma oportunidade de detectar esses casos. Por outro lado, a quantidade de estudantes, de médicos formados, aumentou muito. A gente passou décadas no nosso Estado tendo um só curso de Medicina, o pioneiro na Universidade Federal do Ceará. E nos últimos anos, a abertura de cursos tem tido velocidade muito grande, na esfera privada e na pública. Quando você aumenta muito o número, você aumenta também a dificuldade de controle. E talvez isso seja um fato que leve a gente a refletir. Estou precisando mesmo de quantidade? Ou preciso reforçar a qualidade da formação? Como professor, procuro sempre manter uma proximidade muito grande e orientação constante.
OP – Como o senhor faz questão que os seus alunos o vejam?
Eduardo – Talvez o que a gente deseja mesmo seja passar uma ideia de dedicação, de profundidade, de gosto pelo estudo e pela leitura. Isso é o que vai favorecer o atendimento aos pacientes. A gente não pode cair na armadilha de pensar assim: eu quero que eles tenham um nível de apreço, que gostem mais, porque terão facilidade na minha matéria... Não, isso não. À medida que a gente procura apresentar esse norte, do conhecimento, a gente tem um retorno que talvez não seja tão imediato, mas é muito gratificante, em homenagem pelas turmas, em convite para professor homenageado. É uma sensação de dever cumprido. A vontade é de marcar não pela popularidade, mas pelo modelo de dedicação, de estudo, de leitura e de respeito ao paciente.
OP – É uma relação parecida com a que o senhor tem com os seus pacientes?
Eduardo – Eu comparo a relação professor-estudante com outras duas relações fundamentais. Médico-paciente, professor-estudante, pai-filho: nas três relações, você tem alguém que teoricamente detém o conhecimento a mais e alguém que procura por orientação. São relações assimétricas.
OP – Não necessariamente hierárquicas.
Eduardo – Não. Assimétricas sim, porque envolvem diferença de experiência. Nas três, também está envolvido afeto, porque quando a gente observa um professor, um médico ou os pais da gente, é preciso confiança para que a gente siga. A gente está buscando modelos nessas relações, orientação, confiança, credibilidade. E muitas vezes, a gente, mesmo querendo, não atende a todas as demandas de um filho, porque acredita que não é o mais adequado. Com um paciente e com um estudante, também, mesmo com o coração apertado. E eu digo para eles: a expressão “ex-aluno” faz tanto sentido quanto a expressão “ex-filho”. Não na grandeza do afeto, mas no sentido de que são relações indissolúveis. São relações sensíveis, mas muito prazerosas, muito gratificantes.
OP – O senhor tem uma relação forte com a literatura em geral, não só técnica. De onde vem essa paixão? Como é a literatura na sua vida?
Eduardo – A literatura é um pilar de sustentação. E não é que a gente precise arrumar tempo para literatura. Se não fosse a literatura, a gente não conseguiria levar o trabalho adiante. Ela é uma força em vários sentidos. Existe o sentido do relaxamento, sim, de tirar a cabeça do trabalho técnico e mergulhar num mundo de fantasia. Mas há o lado de você, na literatura, mergulhar na natureza humana, tanto de quem escreveu quanto das pessoas retratadas. Há uma frase assim: “Quem sabe só Medicina nem Medicina sabe”. É algo tão humano que, se você não se dedicar a outras áreas que despertem e trabalhem a sua humanidade, você não consegue levar adiante. Se a gente mergulhar na imaginação e na fantasia, a gente vem para a vida real muito mais preparado.

Eduardo Jucá é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). Especializou-se em Neurocirurgia Pediátrica pela Universidade de Paris – V e cursou Doutorado também na USP. É o único médico no Ceará com dedicação exclusiva à neurocirurgia pediátrica. É coordenador do Serviço de Neurocirurgia Pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza (CE) e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Coordena o curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor), membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica e autor de capítulos de livros e artigos em jornais científicos brasileiros e estrangeiros.
OP – O que o senhor está lendo?
Eduardo – Eu tenho um problema – nunca estou lendo uma coisa só. A gente vai resgatando algumas coisas que vê como lacuna. Estou lendo “Os Maias”, do Eça de Queiroz, absolutamente fantástico. Um livro de memórias do meu sogro, “Menino da vila” (Ricardo Brígido). E um pouco de neurociência, “Pense de novo”, do Adam Grant, psicólogo, neurocientista dedicado à gestão, que envolve tomada de decisão.
OP – O senhor é muito atuante em mostrar como a neurociência faz parte do dia a dia.
Eduardo – A neurociência explica os nossos comportamentos, atitudes, aprendizagem, gestão, relacionamentos. É algo que me dá tanta satisfação que eu abracei como missão a divulgação científica. Daí vem o trabalho que a gente faz nas redes sociais, no canal do YouTube, o Conexão Neural, que ganhou uma regularidade maior. A neurociência não vem para competir com as abordagens clássicas dos teóricos da educação nem com filósofos e teóricos da filosofia. É um corpo de informações adicional.
OP – Muito se fala em Medicina humanizada. Não é redundante? A Medicina não deveria pressupor esse acolhimento?
Eduardo – (Medicina) Pressupõe intimamente esse acolhimento. É a obra do Picasso que citei lá no começo, ciência e caridade têm que estar juntos. Sem ciência, não tem Medicina. Sem a parte humana, também não tem. Fico ressentido com algumas expressões que a gente flagra no linguajar corrente. Muita gente tem falado agora que o parto humanizado é o parto sem médico. Não. A gente tem que ter o parto humanizado com a assistência médica que ele exige. Cada ato que o médico faz tem que ter a sua parte humana, sim, porque o motivo da nossa atenção é a saúde do ser humano. Essa frase está no Código de Ética Médica. Com humanização, a gente envolve respeito, atenção, cuidado com afeto. E afeto não quer dizer necessariamente gostar de maneira particular de uma pessoa, mas cuidar para que ela se sinta bem, confortável do ponto de vista emocional. E isso influi nos tratamentos. Uma pessoa que está se sentindo oprimida numa relação terá uma resposta biológica abaixo do esperado.
OP – A Medicina é uma vocação ou uma carreira?
Eduardo – É uma missão. É possível que você a exerça sem ter aquilo que se chamava de vocação, um dom que se enxergava há gerações... Pode ser, sim, que você exerça a Medicina não como um chamado que veio do berço, mas como uma missão, a partir da qual você acredita que cumpra o seu papel no mundo melhorando a vida das pessoas. E com isso você vai influenciando a sociedade à sua volta.
OP – Houve um caso de diagnóstico de hidrocefalia, de uma criança cearense que foi curada, e essa cura foi atribuída à intercessão da Menina Benigna (beatificada em outubro). Teria sido um milagre levado ao Vaticano, e o senhor teria acompanhado essa paciente. Como foi isso?
Eduardo – Foi uma criança com hidrocefalia, sim, e eu não tenho o conhecimento se o caso contou na beatificação. Mas foi um dos casos divulgados e atribuídos a ela. Obviamente, do ponto de vista médico, eu não posso dar detalhes do caso, mas ele teve divulgação ampla, nacional. Uma criança com hidrocefalia, de difícil tratamento, e que passou por cirurgia com a gente e teve uma resposta muito boa. E você pode me perguntar: quer dizer que esse caso ter tido um bom resultado foi pela cirurgia, não foi por causa da Menina Benigna? Calma lá! Respeito todas as atitudes de colegas e posturas individuais, mas, do ponto de vista pessoal, a gente conta com o plano superior seja no que for possível para ajudar naquele momento. Neurocirurgia de criança é algo muito complexo, é algo fora do script. É algo que a família não esperava. A gente faz, sim, a nossa prece no começo de cada cirurgia, faz a mentalização, procura energia positiva, recebe muito agradecimento, no WhatsApp, por ligação, nas redes sociais. E a cada agradecimento que chega, a sensação interna que tenho é: eu não quero essa energia para mim, eu quero para o próximo paciente, ele vai precisar.
OP – O senhor tem um ritual de autopreparação não apenas técnica, mas também espiritual antes de cada cirurgia?
Eduardo – Sim, a gente faz a nossa prece, mentaliza, pede toda energia boa que puder vir do plano superior. Se tem uma intervenção específica de alguma entidade em particular, seja dos santos, seja de qualquer entidade de outra religião que o paciente tenha, a gente não tem como saber. Mas a gente aceita de muito bom grado e pede, sim. É uma questão de humildade.
OP – Apesar de muito jovem, o senhor já tem uma carreira consolidada, já é uma referência nacional, mas está sempre fazendo algo novo. Quais são os seus próximos desafios?
Eduardo – Tudo o que a gente tem feito é tão gratificante que a gente procura aprofundar. Um projeto que a gente está buscando intensificar, em frequência e melhoria, é o canal para divulgação científica. Os meios digitais possibilitam a gente influenciar a vida de muitas pessoas por meio da neurociência. E, na parte da assistência, sempre estar trazendo e consolidando técnicas novas.
OP – E o amor pelo Fortaleza?
Eduardo – A neurociência explica a paixão pelo time de futebol. Não é algo descontextualizado. Se fosse algo movido só pelo desempenho, todo mundo iria torcer pelo Flamengo ou pelo Palmeiras ou pelo Liverpool ou pelo Barcelona... Mas vem da memória e do afeto. Durante 15 anos morando fora da minha cidade, o Fortaleza foi um elo, foi um assunto que eu tinha com a minha família, com os meus amigos. Acompanhar um time e os campeonatos era uma maneira de eu continuar vivendo aqui de certa forma. E pode não parecer, mas eu sou um introvertido. E sou um introvertido no meio de duas gerações de extrovertidos, que são meu pai e meu filho. E o Fortaleza sempre foi um assunto com essas duas gerações. Sempre foi algo que me uniu muito ao meu pai, veio dele. E tem me unido ao meu filho, tenho levado ao estádio, tenho acompanhado as emoções com ele. Daí vem afeto, memória, a gente lembra de cada episódio, o tanto que despertou a sensação do prazer, a liberação do neurotransmissor dopamina, o quanto foi liberado naquele gol do Cassiano... O cérebro interpreta como memória de longo prazo aquilo que emociona. É um critério da memória. Já pensou se a gente se lembrasse de tudo, até das coisas banais? O cérebro guarda na memória aquilo que fica como emoção.
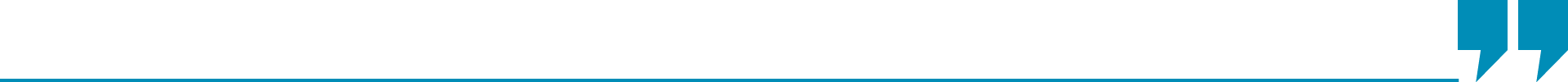
Eduardo Jucá não esconde seu gosto pela leitura. A biblioteca que dá as boas-vindas em sua casa é preenchida com livros de alto a baixo, dos clássicos aos modernos, dos técnicos aos literários. Ele tem um canal no YouTube, o Conexão Neural, em que compartilha vídeos didáticos sobre neurociência. A ideia é difundir o tema e seu impacto no dia a dia.
O médico Eduardo Jucá faz parte da única equipe cearense a atuar com cirurgia intrauterina – quando o bebê é operado ainda durante a gravidez da mãe). Ficou conhecido nacionalmente por ter integrado a equipe que separou, em Ribeirão Preto (SP), as gêmeas siamesas Maria Ysabelle e Maria Ysadora, que eram coligadas pelo crânio.
As irmãs Maria Ysadora e Maria Ysabelle nasceram unidas pela cabeça e foram submetidas a um inédito procedimento no Brasil para a separação. A família é natural de Aquiraz (CE). Nunca uma separação desse tipo havia sido feita no Brasil. O procedimento foi dividido em cinco etapas. A última cirurgia ocorreu em outubro de 2018. Eduardo Jucá foi responsável pela transferência das meninas para o Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, em 2017. As cirurgias foram acompanhadas também pelo cirurgião norte-americano James Goodrich, que era considerado referência mundial no assunto.
Grandes entrevistas


