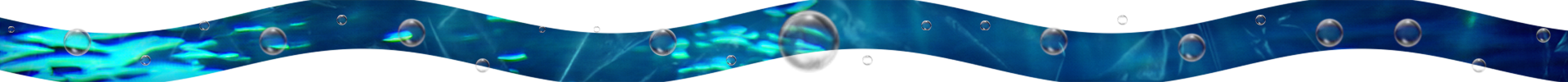
Os marinheiros ocidentais dos séculos passados inventaram uma superstição: mulheres à bordo dão azar. As mulheres são traiçoeiras como sereias — meio humanas, meio peixe ou ave — dedicadas a encantar homens cansados e afogá-los sem pesar. Nada a ver com a incontrolável ânsia de homens crentes de seu poder sobre o sexo oposto, confinados à imensidão do mar longe das esposas e dos bordéis. O problema eram as mulheres.

Passadas as grandes navegações, depois de as sereias esconderem-se da superfície assolada pelas guerras, as mulheres continuaram presas à terra. Em 1948, a geóloga Marie Tharp era técnica em cartografia na Universidade Columbia e trabalhava com Bruce Heezen no mapeamento do assoalho oceânico. A pesquisa consistia em embarcar em um navio, mandar ecos até o fundo do mar e calcular o retorno deles, possibilitando o desenho de um mapa. Proibiram Marie de ir à campo; mulheres à bordo dão azar.
Então, Tharp ficou em terra firme enquanto Heezen coletava dados na aventura em alto-mar e os enviava para análise da geóloga. Nesse processo, ela identificou que o assoalho oceânico não era plano, como imaginava-se até então, mas cheio de declives e fendas. Os dados embasavam a Teoria da Deriva Continental, proposta pelo meteorologista Alfred Wegener em 1913, mas recusada pelos pesquisadores na época.
Tharp começou a apoiar a teoria de Wegener, mas Heezen descartou as hipóteses de Marie e as definiu como "conversa de garota". Apesar disso, ela insistiu e produziu análises mais detalhadas, as comparou com as pesquisas de Howard Foster e foi diretamente responsável por fortalecer tanto a Teoria da Deriva Continental, quanto a Teoria das Placas Tectônicas (que seria uma versão mais ampliada da primeira).

Quase 50 anos depois, em 1996, a bióloga marinha colombiana Sandra Beltrán-Pedreros usava um facão para a necrópsia de um boto-cinza (Sotalia guianensis) quando ouviu um dos pescadores falando com o colega ao lado. Ela ainda não entendia completamente as gírias do português, mas reconhecia perfeitamente o tom masculino sexualizador e inapropriado. Além disso, o pescador de Vigia (PA) era figurinha marcada, pois ela já tinha percebido outros momentos em que o homem a encarava “desagradavelmente”.
Com um corte rápido e preciso, ela decepou o boto e levantou a cabeça do bicho na direção do homem. Facão entre os rostos da bióloga e do assediador, ela encarou o pescador sem titubear: “Do mesmo jeito que tenho a habilidade para arrancar a cabeça de um boto, posso fazer com a sua”. O homem nunca mais a incomodou.

Unidas pelo fio do tempo, as mulheres dedicadas ao estudo dos ambientes marinhos seguem profundamente estigmatizadas. Elas são a
Que histórias essas mulheres pesquisadoras têm a compartilhar?
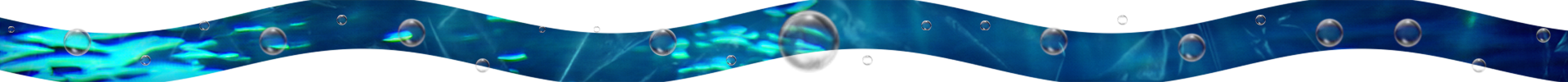
“Às vezes, a gente tem que fazer isso. Se manifestar com certo nível de força”, determina Sandra, 57, relembrando da cena com o facão. Ela tinha 29 anos e era conhecida pela comunidade, mas aquele pescador em específico constantemente a assediava. Depois de enfrentá-lo, ela admite que ser querida pela comunidade garantiu a segurança dela e evitou qualquer desfecho perigoso durante a estadia na cidade.
Na época, ela trabalhava com pesca artesanal no porto de Arapiranga em Vigia (PA) e fazia a necrópsia dos botos acidentalmente capturados nas redes de pesca. Também acompanhava viagens de pesca que duravam entre 35 e 40 dias, explorando todo o estuário do rio Amazonas (das costas do Pará e do Amapá) à bordo do Saveiro, um barco de 30 metros com tripulação de 11 homens. Sandra era a única mulher.
“Eu fiz quatro viagens de pesca. Eles já me conheciam da época do mestrado, e ao longo de todos esses meses eu ganhei a confiança deles e das esposas deles”, conta a pesquisadora. “Eu precisava fazer as viagens de pesca para saber por que os botos estavam ficando presos nas redes.” Apesar da experiência ruim com o pescador do porto, ela nunca teve problemas com os 11 tripulantes do Saveiro.
“Foi muito legal. Eu fui a primeira mulher a embarcar numa viagem de pesca nesse porto. E o dia que saímos a pescar parecia uma procissão, todos os barcos saíram juntos. E aí fiquei sabendo depois de que os homens (do porto) tinham feito uma aposta de quantos dias eu iria durar na viagem: o que mais deu tempo para mim falou que eu não iria durar mais de quatro dias.”
Depois de completar todos os dias de viagem perfeitamente bem e retornar com uma boa pesca, a mulher embarcada que dava “panema” (azar) virou a colombiana da sorte pesqueira.

Mesmo tendo majoritariamente boas experiências, ela enfrentou diversas difamações de locais — como um pastor que usava os alto-falantes da cidade para falar que Sandra era uma má influência e que se oferecia aos pescadores. Além disso, coleciona diversos momentos na carreira em que aturou comentários abusivos e inapropriados de tripulantes em outros navios (inclusive militares) e em que teve as competências como pesquisadora e tripulante colocadas em xeque.
Os assédios sexual e moral afetam boa parte das pesquisadoras do mar, quer elas percebam ou não. A dissertação da mestre em Ciências e Tecnologias Ambientais Michele Cristina Maia identificou que 82,6% das 197 pesquisadoras do mar respondentes da pesquisa sofreram algum assédio quando embarcadas.
Geralmente, piadas machistas (42,9%) e olhares ou gestos sugestivos indesejados (32,3%). A maioria das pessoas que relataram os assédios estavam em um navio entre 6 e 15 dias. As embarcações com mais situações de assédio eram do setor privado (32,9% para as mulheres) ou da Marinha do Brasil (22,4%).
A pesquisa foi orientada pela bióloga Catarina Rocha Marcolin, professora doutora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e uma das idealizadoras do blog Bate Papo com Netuno. O projeto de divulgação científica tem uma aba dedicada ao assédio sofrido pelas pesquisadoras das ciências do mar: “A gente tem pouca pesquisa sobre o assédio em mulheres embarcadas. Especificamente nesse contexto, temos só o trabalho da Michele”, lamenta.
As vítimas geralmente são mulheres jovens, alunas da graduação e da pós-graduação. Os agressores são praticamente sempre homens, e apesar dos relatos darem conta de assédios cometidos por homens de todos os níveis hierárquicos, são principalmente os superiores que mais agridem. A relação hierárquica é ainda mais violenta em contextos de navios da Marinha, já que a estrutura de poder militar verticalizada é mais rígida. “Além disso, quanto maior a proporção de homens na tripulação, tende a existir mais assédio”, reforça a orientadora.
Os dados traduzem um cenário perigoso tanto para as pesquisadoras como indivíduos, quanto para a própria ciência. “O assédio traz um dano à dignidade humana e na sua qualidade de trabalho”, diz Catarina, referindo-se aos sintomas físicos e mentais sentidos após os abusos.
Nem só de assédio sexual se prejudica uma pesquisadora e uma pesquisa. O assédio moral, com a descredibilização das cientistas, o descumprimento das ordens delas e o constante desafio das competências delas abre margem para uma ciência mal feita.
“Em 2016, eu entrevistei uma colega de forma anônima sobre um embarque que ela tinha participado. Elas não tinham um cientista homem como chefe, então uma pós-graduanda foi a chefe de pesquisa nesse embarque”, lembra Catarina. “E elas relatam que os marinheiros não lançavam a quantidade de cabo que elas pediam. Então elas estavam anotando que estavam lançando a 600 metros e eles lançavam a 200, para poder fazer mais rápido e porque não queriam seguir regras de uma mulher.”

Essa diferença na metragem do cabo prejudicou completamente os dados da pesquisa científica. “Eu me lembro que uma delas falou assim: ‘Eu me senti uma puta pós-graduada’”, choca-se Catarina. “Porque a sensação é de que não interessa muito de onde você vem, a sua trajetória acadêmica… Você se sente como uma pessoa que não deveria estar ali, né?”, diz.
A verdade é que ainda existem pouquíssimos dados que tratem o assédio às pesquisadoras das ciências do mar como um tópico crucial para a permanência das mulheres nas carreiras científicas e para a qualidade das pesquisas. “Só o tempo que a gente gasta tendo que lidar com as consequências do assédio… A gente poderia estar usando ele para fazer ciência de qualidade”, pondera a professora.
Mais do que isso, esses cenários excluem as mulheres das saídas de campo. Para as que não desistem da carreira, o assédio transforma algo que era para ser bonito em algo traumático. “Toda vez eu fico reflexiva, pensando em como eu me inspirei nesses momentos em campo para poder seguir a carreira científica”, lamenta Catarina.
“Para mim, uma das partes mais importantes é a gente estar em campo, é o que faz a gente sentir que escolheu a profissão dos sonhos. Esse momento não pode ser marcado por violência… Mas a verdade é que a mulher tá marcada por violência. Afinal, o lugar mais perigoso para uma mulher é dentro da própria casa.”
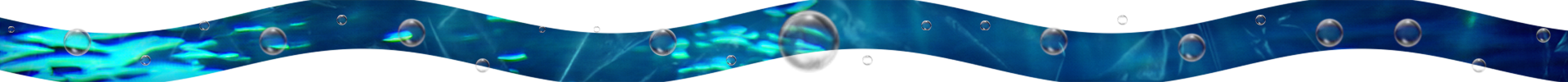
Não é preciso estar isolada para enfrentar a tensão de uma expedição machista. Mesmo longe dos assédios sexuais, a descredibilização que as mulheres enfrentam na pesquisa ainda é muito presente.
É por isso que as tripulantes da

Ela integra a equipe de quatro mulheres que estão desde 11 de maio de 2024 viajando pela faixa costeira do Brasil coletando amostras de mariscos bivalves (com duas conchas) para quantificar o microplástico nas praias brasileiras. Junto com a coleta, elas também estão produzindo um documentário em série sobre o projeto.
Ao lado de Thamys, estão a bióloga marinha e produtora Jessyca Lopes, 32, a bióloga marinha e doutoranda em Oceanografia Marília Nagata, 33, e a oceanógrafa e criadora de conteúdo das mídias sociais do projeto, Katharina Grisotti, 26.
“A gente teve que ser engolida, tentar enfiar goela abaixo que a gente estava ali”, continua Thammy. “Algo que essa expedição trouxe foi uma tranquilidade de eu não precisar me provar, de cada uma das meninas não precisar se provar para a outra, porque a gente genuinamente ergue a outra ao longo da expedição, mostrando o quanto é importante o trabalho de cada uma. Coisas que a gente gostaria de ter ouvido e nunca ouviu, né?”

“Ter uma expedição só com mulheres é uma vitória muito grande para a gente, porque é muito difícil encontrar (expedições com ampla presença feminina)”, define a bióloga marinha Jessyca Lopes. “E quando você tá fazendo audiovisual, você vê uma equipe que, se não for 100%, é 90% constituída por homens. Então, eu acho que é um passo muito importante ter pessoas que você consiga enxergar e confiar nesse meio.”
De acordo com a doutoranda em oceanografia Marília Nagata, as mulheres são a maioria entre as alunas e pesquisadoras das ciências do mar, mas quem está nos cargos de liderança são os homens. “A gente se surpreendeu que, naturalmente, a gente foi encontrando muitas mulheres ao longo da nossa expedição. Nós entrevistamos e conversamos com muitas mulheres, muitas marisqueiras, também porque elas que são as grandes protagonistas dessa atividade”, reforça a pesquisadora.
Em uma expedição só de mulheres, elas perceberam que a comunicação é mais assertiva. Apesar de estarem há meses longe de casa, a habilidade de manter conversas francas tem garantido uma viagem sem conflitos internos e respeitando os momentos privados de cada tripulante. “A gente conseguiu fazer uma expedição relaxada dentro da nossa equipe, sempre com muita conversa. A gente fala que temos umas sessões terapêuticas de análise das situações”, ri Thammy.
Desse ambiente tranquilo, de compreensão mútua e de reconhecimento ao bom trabalho, a equipe vê que o documentário está virando uma produção “genuína”, com um “olhar muito feminino e doce ao longo da expedição”. “Mesmo sendo uma expedição científica, a gente transfere isso para como a gente gostaria que aquilo fosse visto”, comenta a diretora de fotografia.
“A gente queria que a expedição fosse de escuta das outras pessoas (como os locais e as marisqueiras). Nunca foi uma coisa muito impositiva. Para a gente documentar, a gente queria saber quem era aquela pessoa e mostrar para ela que ela era importante o suficiente para estar na frente da câmera; que ela era a protagonista da sua vida e daquele momento”, afirma. “A gente enalteceu as pessoas como a gente gostaria de ter sido ao longo da nossa jornada profissional.”
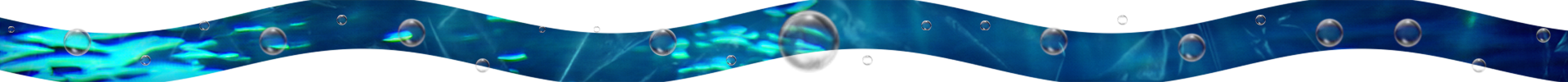
“Durante a graduação (2006), eu não tinha uma visão feminista. Mas após questões pessoais e depois de graduada, trabalhando como técnica de pesquisa, em ONGs, como autônoma, foi ficando cada vez mais claro como tinha muitas mulheres na base e poucas no topo.” A fala é da oceanógrafa Adriana Lippi, cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano e mestranda no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo (Imar/Unifesp).

No mestrado, ela pesquisa gênero nos programas de pós-graduação (PPG) de ciências do mar no Brasil, no objetivo de levantar dados sobre a proporção de gênero dos estudantes e do corpo docente da área. Ocorre que não existem dados consolidados sobre quantas mulheres são alunas e professoras nas pós-graduações, um levantamento que deveria ser responsabilidade da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
“Se a gente não tem dados, a gente não pode brigar”, simplifica Adriana. Com a pesquisa, a oceanógrafa percebeu que, apesar de existir uma maioria de alunas nos PPG (54%), as professoras são apenas 30% — um número estagnado há 18 anos. “Apenas um PPG tem algum histórico de mais de 50% de professoras. Mas tem PPG que tá com tendência de diminuição (na representatividade de mulheres docentes)”, pontua.
Os fatores que levam à baixa presença feminina entre as professoras são diversos. No entanto, há um consenso de que a maternidade é um dos pontos mais sensíveis para a carreira das pesquisadoras. “É preciso apoio para as mães na ciência”, reforça.
Por outro lado, o impacto da desigualdade de gênero e do assédio na vida das pesquisadoras ainda é pouco discutido. Segundo Adriana, há uma dificuldade muito grande de se falar sobre assédio, especialmente porque nem todas as cientistas têm a leitura de gênero sobre o cenário desigual e sobre o que configura assédio ou não.
“Algumas docentes ficaram surpresas ao ver os dados (de baixa representatividade das mulheres entre as professoras). Elas achavam que eram maioria”, cita a oceanógrafa. E mesmo que muitas das docentes acreditem que a cultura machista e assediadora melhorou dentro da academia, elas também reconhecem que as alunas são as mais vulneráveis — tanto ao assédio sexual, quanto ao moral.
“A discriminação ainda é forte. Você tá lá sozinha para fazer um trabalho, e se você tiver algum problema físico você não pode dar um sinal de ajuda”, reflete a pesquisadora, referindo-se a casos em que mulheres são vistas como fracas e incapazes de cumprir determinadas atividades físicas em campo.
A desigualdade de gênero também é fortalecida nas ciências do mar pelo entendimento equivocado de que as ciências da natureza são “neutras” e não têm vieses. “É a visão de ciências da natureza de que não importa quem está observando e coletando, não vão influenciar na qualidade dos dados”, explica.
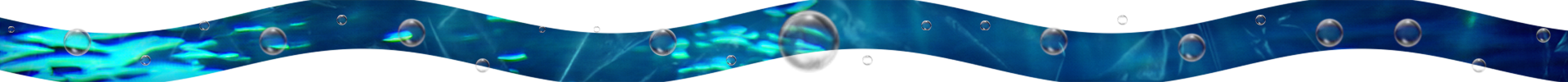
E se o impacto na pesquisa é verdade no recorte de gênero, também o é nas lentes raciais. No segundo episódio da terceira temporada do especial Década do Oceano, O POVO+ conversa com a bióloga Bárbara Pinheiro, mergulhadora, doutora em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e especialista na gestão de ambientes costeiros, sobre a presença negra e nordestina nas ciências do mar.
Essenciais à vida no Planeta, os oceanos entram na pauta de alerta e a ONU instituiu a Década do Oceano, que começa em 2021