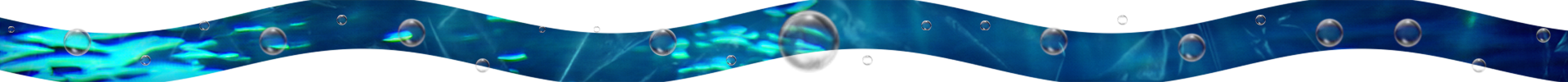
Nascida em Recife (PE), rodeada pelo mar azul e convidativo do Nordeste brasileiro, Bárbara Pinheiro cresceu inevitavelmente apaixonada pelo Oceano. Adulta, virou bióloga, mergulhadora e doutora em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Atualmente, está como pesquisadora do programa de desenvolvimento científico e tecnológico da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), trabalhando especificamente com os impactos da acidificação do Oceano nos rios e na região costeira — principalmente nos efeitos diretos nos recifes de coral.
O currículo de Bárbara é ainda maior, mas ela faz questão de reforçar: ela é uma mulher negra, nordestina fazendo ciência. Membro da secretaria executiva da Liga das Mulheres pelo Oceano e coordenadora dos grupos de trabalho da Década do Oceano e de Mulheres Negras, Bárbara assume a responsabilidade de falar sobre a diversidade na ciência.
“A ciência precisa da diversidade”, determina em entrevista ao O POVO+. Não porque a metodologia científica muda, mas porque o repertório de vivências de mulheres, negras, indígenas, LGBT, nortistas e nordestinos (e tantas outras formas de se viver e ver o mundo) muda completamente as perguntas feitas e os impactos diretos das pesquisas científicas. “Esse é o X da questão.”
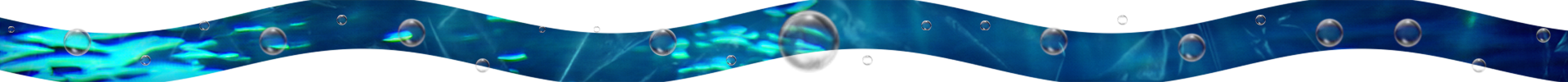
O POVO+ - Essa já é a terceira temporada do nosso especial Década do Oceano e nós percebemos um protagonismo muito grande das mulheres no mar, seja como trabalhadoras (catadoras de alga, marisqueiras), seja como pesquisadoras. Como a senhora vê a participação e a visibilidade feminina na ciência do mar?
Bárbara Pinheiro - Olha, das mulheres que estudam os ambientes recifais, um dos ecossistemas mais ameaçados, a gente tem tanto de graduação, quanto de pós-graduação, um número muito bom. É quase equivalente ao de homens. Porém, o negócio fica complicado quando a gente vai ver o número de pesquisadoras que já se tornaram professoras, e professoras que já estão no nível avançado de carreira, né?

Porque quando você entra na academia, você vai progredindo: professora associada, depois vai para professora adjunta, até professor titular e professor emérito. Nesses níveis mais estáveis da carreira, aí tem bem menos mulheres. A proporção ainda é de 60% de homens para 40% de mulheres na academia. Ainda precisamos lutar muito para chegar lá.
E aí, se a gente faz esse recorte para a questão de gênero e raça, aí complica. Eu não tenho os números porque, por incrível que pareça, a gente não tem muito acesso para falar de raça no Brasil. É uma coisa, relativamente, ainda muito nova; então faltam dados de pessoas que se autodeclaram negras [nas graduações e pós-graduações] que estejam disponíveis para que a gente possa avaliar mesmo o quanto de representatividade a gente tem.
Isso é difícil demais porque reflete vários problemas sociais que a gente precisa encarar. É por isso também que eu não consigo ficar só na ciência, hoje em dia. A gente tem que começar a lutar mesmo por políticas públicas, políticas afirmativas, e não ter vergonha de falar que a gente precisa de representatividade. Eu acredito que agora a gente consegue provocar essa mudança, sabe?
As coisas têm mudado. Na Década do Oceano, qualquer reunião que você vai no comitê nacional brasileiro tem mais mulheres, se você for para algumas reuniões internacionais da Unesco, tinham muitas mulheres, algumas inclusive do alto escalão — agora, é claro que elas não são a maioria. Mas elas estão começando a puxar outras para formar os grupos. Eu vejo uma dominância de mulheres principalmente no grupo de Cultura Oceânica.
O POVO+ - Mas o que tem dificultado a ascensão das mulheres nos contextos marinhos, como pesquisadoras ou até mesmo no espaço de decisão política?
Bárbara - É algo que vem dessa cultura na qual os homens eram símbolos, principalmente homens brancos, de status e de poder. E com isso faltava espaço, faltava abertura, faltava credibilidade… Na verdade, ferramentas que possibilitassem que as mulheres assumissem certos cargos, né? Porque tem toda uma questão de que as mulheres são sempre vistas como cuidadoras dos filhos e das outras pessoas dentro de casa.

A gente tem um problema muito sério na parte das ciências marinhas: como a gente vai muito para campo, a questão do assédio é algo que acaba tirando muitas mulheres de algumas posições, porque elas acabam se privando de experiências por medo mesmo. Medo de ir à campo e sofrer alguma violência, e aí o currículo vai ficando diferente do dos homens, que não tem esse medo, que conseguem seguir.
Tem a questão dos homens chamarem só outros homens para colaborar; tem bastante esse Clube do Bolinha em várias áreas, mas nas ciências marinhas é muito comum. A gente inclusive tem debatido muito sobre isso. A professora Mariana Bender, do Rio Grande do Sul, tem pegado vários dados e demonstrado por meio das publicações de como os homens costumam só chamar homens, enquanto as mulheres já são mais ecléticas, chamando parceiros não só por serem amigos próximos, mas para interagir pelo conhecimento. Eu acho que é essa mudança que a gente precisa.
A gente não tinha sistema de cotas para entrar nas universidades. A gente não tinha para os concursos públicos. Então é isso, só entrava pessoas brancas. Meu Deus, eu falo que assim, eu não tive professores negros. Hoje em dia, já tem na universidade alguns, mas são pouquíssimos. A partir do momento que eu entrei na Liga de Mulheres pelo Oceano, no grupo de pessoas negras das ciências marinhas, a gente tem buscado referências de mulheres negras que estejam atuando ou que foram professores.
Aqui no Nordeste, uma referência é a professora Altair Machado da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela estuda
Mas [achar mais nomes] para as ciências marinhas, para o oceano é difícil. E isso é muito ruim, porque às vezes a gente quer indicar alguém [negra] para falar de um tema e não tem. Cadê? Onde elas estão?
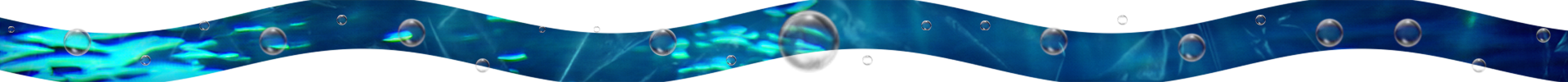
O POVO+ - É muito curioso, porque quando se pensa em povos do mar, que vivem no litoral do Brasil, geralmente são pessoas racializadas, né? Eu estava lendo um texto seu de 2023 sobre o livro de peixes recifais brasileiros, no qual a senhora comenta a ausência de mulheres e pessoas negras na produção do livro, e eu entendi que, ao questionar os autores, eles ficaram incomodados. Por que esse questionamento incomoda tanto?
Bárbara - Na verdade, o que mais me incomodou foi eles não estarem incomodados com o fato dessa diferença. Elas não se incomodaram, não perceberam de maneira nenhuma. Isso é uma coisa natural, porque era isso: era um grupinho que já estava estudando.
Só que o que me dá mais tristeza nesse caso é porque um dos autores — eu conversei com todos eles, os principais organizadores — ele falou para mim: “A gente demorou mais de 20 anos para fazer esse livro.” Em mais de 20 anos você não conseguiu achar uma mulher? Quantas ficaram de fora?
Leia mais
Uma coisa boa é que vão lançar agora no Congresso de Ictiologia um livro específico só para homenagear as mulheres ictiólogas. Elas se juntaram depois dessa confusão para mostrar o valor das pesquisadoras que estudam peixes, porque elas foram ignoradas mesmo.
Eu fiquei muito feliz de isso partir do momento em que a gente não tem medo de questionar, não tem medo de perguntar mesmo, sabe?
Uma das coisas que eu também tenho lutado muito é a questão do regionalismo. Um dos autores do livro é um pesquisador nordestino, na verdade o que financiou o livro, ele está morando fora do Brasil há muito tempo.
Aí eu falei com ele: “Mas, rapaz, logo tu que é um dos poucos nordestinos pardos que conseguiu virar uma referência mundial no estudo de peixe…” E ele não se ligou que não tinham mulheres, que não tinham nordestinos, que não tinham pessoas negras.

A gente conversou muito e aí ele pediu desculpas, inclusive disse que ia ficar mais atento, que ia lutar. E foi um debate muito saudável, a partir dessa minha indignação. Então, assim, não é só na questão do livro, existem vários exemplos. Questões de banca de doutorado e de mestrado que o pessoal vai chamar os avaliadores e só são pesquisadores brancos do sudeste.
O POVO+ - Como a diversidade de pesquisadores favorece a ciência?
Bárbara - A ciência precisa da diversidade. O método científico, não, ele é o mesmo; mas a forma como você vai fazer a pergunta é que aí vai estar muito direcionada à sua realidade, à sua história, ao seu repertório mesmo.
O método científico é o mesmo, a estatística é a mesma, a gente não muda isso. Mas o que a gente traz são perguntas [novas]. Não é tipo, “quantas escamas de peixe tem?”, não.
Das nossas vivências, às vezes difíceis, a gente vai querer investigar cientificamente se a idade de crescimento daquele peixe pode, sei lá, proporcionar que as comunidades tradicionais tenham cada vez mais aquele peixe. E se fizer um rodízio de área de pesca?
Essas são as perguntas que a diversidade de pessoas, de olhares, de experiências, de regiões vai trazer. É aí que está o X da questão. Quanto mais você permite que outras pessoas tragam sua bagagem, sua curiosidade e a sua vontade de ajudar as comunidades, é aí que tá a diferença.
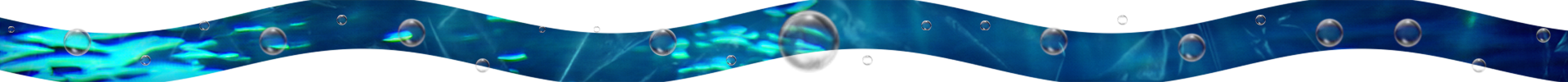
O POVO + - Pensando no cenário brasileiro atual, quais perguntas será que estamos deixando de fazer por não estimularmos a equidade de gênero e racial na pesquisa?
Bárbara - Isso daí não é só a questão da pergunta. A questão de gênero tem muito a ver com política pública. Primeiro, eu acho que a gente precisa sair um pouco da ciência e passar um pouco para a representatividade mesmo, porque para a gente ter perguntas diferentes, a gente precisa permitir que essas pessoas cheguem nesses locais.
Eu pelo menos tenho lutado muito para cada vez mais a gente aumentar essa diversidade, de ser uma coisa mais justa. E ter representatividade não só de gênero, como de raça, como de região do país…
Mas, sobre as perguntas que a gente faz: por exemplo, eu trabalho com acidificação oceânica, diretamente com algumas mulheres marisqueiras. O barqueiro que leva a gente para a coleta, a esposa dele é marisqueira, e aí uma vez ele me perguntou assim: “Me fala aí um pouco do teu estudo. O que é isso?” Aí eu digo: “Então, a gente tá colocando tanto CO2 na atmosfera que tá causando uma mudança química na água”. Sim, mas o que isso te a ver com a minha vida?, eles perguntam.

Então a nossa pergunta propôs mostrar para as pessoas como elas estão relacionadas a esse problema. No caso especificamente das marisqueiras, é mostrar como a acidez do Oceano vai impactar diretamente no desenvolvimento dos mariscos, né?
Então em vez de eu estar estudando só a acidificação num recife de coral, eu vou escolher estudar [a acidificação] no marisco. Porque eu sei que é aquela resposta vai estar me ajudando diretamente no setor econômico e social. Aí eu tô ajudando um grupo de mulheres marisqueiras da minha região através da minha pesquisa.
O POVO+ - A senhora acha que avançamos nesse movimento de luta e resistência por mais espaços, com mais pessoas questionando o status quo?
Bárbara - A gente precisa de muito mais pessoas lutando. Ainda são poucas. Mas um dos grandes avanços e coisas bacanas que a gente tem para a questão de gênero é a Liga das Mulheres pelo Oceano.
Com certeza fez diferença, porque é um movimento em rede maravilhoso que liga mulheres de todas as regiões, de todos os tipos de experiências profissionais e áreas de atuação.
Depois que eu entrei em movimentos como a liga, em grupos como os das mulheres negras, você se fortalece e as fortalece. Você consegue falar mais, divulgar mais, estar mais presente, inspirar outras pessoas que fazem o mesmo.
Aquele meu texto do livro, que estávamos falando, inspirou muita gente. Eu escrevi aquele texto em um final de semana, indignada em casa, conversando com os autores no grupo de WhatsApp; e aí depois surgiu o texto e aí vieram inspirações, outras mulheres estão buscando melhores colocações, outras pessoas negras, LGBT… Todo mundo, quando vê que tem alguém que pode se inspirar.
Eu mesma me inspiro em várias mulheres incríveis que vieram antes de mim, que estão na luta junto comigo para poder seguir. Até nessa questão do livro também foi muito forte.
Quando eu tava escrevendo o texto, eu tava conversando com a minha mãe. Aí a minha mãe disse: “Minha filha, você não acha que isso vai ser perigoso para você?” Aquele coisa, se você for entrar no concurso público e eles estiverem na banca, eles vão te marcar.

Eu disse assim: “Olha, eu não posso pensar nisso como uma forma de barreira.” A gente tem muito que lutar e o fato de estar em rede, se fortalecendo, se empoderando, trocando conhecimento ajuda a você ter coragem de enfrentar essas adversidades.
O POVO+ - E o que a gente pode fazer para evitar esse ambiente excludente?
Bárbara - Todo mundo já percebeu que tem uma diferença em relação ao acesso, à permanência, à visibilidade desses subgrupos, né? Então, eu entendo que alguns grupos estão realmente buscando implementar alguma iniciativa que realmente promova o acesso via cota, sabe?
Que seja às vezes recebendo no laboratório, criando políticas pequenas. Qualquer exemplo de professores que vão fazer uma seleção de bolsista e pontuam que querem uma pessoa negra, que sejam mulheres…
Sabe, pequenas ações dentro da universidade, dentro dos programas de pós-graduação, de criar essas ações afirmativas são muito importantes. Principalmente na agência de fomento. Eu acho que essas ações talvez ajudem a criar um ambiente, ou a estimular um ambiente acadêmico ativo e mais acolhedor, mais seguro para que as mulheres consigam e queiram continuar lutando.
E não só as mulheres. Tem muito problema com a comunidade LGBTQIA+ em relação à segurança, tanto do assédio sexual como moral. E aí cabe muito às pessoas que estão dentro da academia, na gestão mesmo, implementar algumas políticas dentro das universidades para melhorar esse ambiente, porque a gente já tá cansado disso.
Temos dados mostrando como as pós-graduações já estão deixando de ser atrativas para as pessoas recém-formadas, porque tá todo mundo falando que a academia é um ambiente doentio. “E você vai para pós-graduação? Você fica ansioso, depressivo…” Pelo bem da ciência e da tecnologia — porque qualquer país que quer crescer economicamente precisa de tecnologia —, cabe aos que estão tomando a decisão dentro da universidade melhorar esse ambiente.
Essenciais à vida no Planeta, os oceanos entram na pauta de alerta e a ONU instituiu a Década do Oceano, que começa em 2021