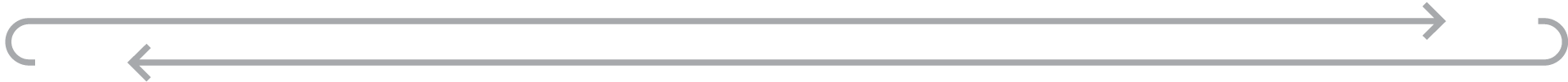
► O som do tambor e da cantoria de dezenas de vozes pequenas e agudas aumenta à medida que se adentra a Escola indígena Anacé Joaquim da Rocha Franco, em Caucaia (CE). Nos fundos da antiga creche, o terreiro é protegido por um enorme cajueiro que sombreia a roda de toré infanto-juvenil puxada por Marcelo Anacé, uma das lideranças do povo indígena Anacé do Cauipe.
A escola separa dois dias da semana para reunir as crianças — até o sexto ano do ensino fundamental — no terreiro e cantar o toré. “Nós estamos fazendo o resgate da nossa cultura”, reforça Marcelo, 42 anos. Ele é a oitava geração dos Anacé do Cauipe que, a partir dos anos 2010, faz a retomada da terra e da cultura. Mas o retorno não vem sem lutas.
Entre ameaças de diversas fontes, a ausência de serviços públicos e a busca pela delimitação do território na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), os Anacé do Cauipe também enfrentam as termelétricas à carvão e à gás natural.
As imagens das casas sujas por pó de carvão são antigas. Na imagem abaixo, feita em 2018, a ex-agricultora Rita de Oliveira, na época com 35 anos, mostra a camada de cinzas nos móveis da casa em São Gonçalo do Amarante (CE), município onde está localizada a Usina Termelétrica Pecém I.

O cenário se repete a 11 quilômetros do município, em Caucaia, no território dos Anacé do Cauipe, por volta dos anos de 2014. “O vento vem na época do caju. A gente começou a ver os caju brilhoso, quando passava o dedo ficava só o brilho”, narra Marcelo. “As goiabas começaram a nascer defeituosas. E aí, na laje lá de casa, a gente começou a de repente juntar aquele monte preto. Não pode ser asfalto porque não tinha asfalto onde a gente morava”, lembra.
Além disso, a comunidade começou a identificar que as alergias respiratórias estavam mais intensas, e os casos de câncer estavam crescendo. Na última década, Marcelo calcula dez parentes que morreram de câncer (no pulmão, no intestino, nas mamas, nos testículos e mesmo generalizados) na comunidade, composta por 200 famílias.
Não há dados que confirmem o aumento de casos de saúde dos Anacé do Cauipe e a relação direta deles com o funcionamento das termelétricas do Pecém. Porém, a queima do carvão natural emite diversos gases poluentes, como os óxidos de nitrogênio (NOx), que sabidamente “agravam doenças respiratórias, reduzem a capacidade pulmonar, associam-se ao envelhecimento precoce e também contribuem para a formação de nitrosaminas cancerígenas e de chuva ácida” — como descreve a médica Raquel Maria Rigotto em relatório publicado em 2009.
O POVO+ contatou a Mercurio Partners, responsável pela Usina do Pecém I, questionando se a empresa teria: 1. um mapa de comunidades afetadas com resíduos de carvão oriundos das termelétricas; 2. planos de mitigação dos impactos da termelétrica nas comunidades; e 3. formas de monitoramento da usina para evitar impacto às comunidades e planos de ação em casos de impactos não previstos.
“Todos os esclarecimentos e dados relacionados aos seus questionamentos já foram prestados e disponibilizados aos órgãos competentes, mas podemos assegurar que não há impacto relacionado ao empreendimento na comunidade indígena Anacé do Cauipe”, respondeu a empresa por nota.

Segundo Marcelo Anacé, é justamente na temporada de ventos, entre julho e agosto, que a situação fica pior. “Em agosto, o vento faz um 360° bonitinho. É nesse 360° que muitos parentes daqui tiveram câncer. A gente perdeu muitos parentes aqui… O último que a gente perdeu morava a três casas daqui”, lamenta.
O carvão mineral utilizado no Complexo Industrial do Portuário do Pecém é importado da Colômbia e descarregado no Porto do Pecém. De lá, ele é carregado por uma esteira de 12,5 quilômetros, com capacidade de transportar até 2.400 toneladas de carvão por hora, até a usina termelétrica. “As pilhas de carvão são umedecidas com o propósito de evitar a dispersão de partículas no ar”, explica a empresa Energia Pecém em site.
Marcelo nos levou para ver as esteiras. No caminho, contava histórias do território ainda no aguardo da delimitação pela Funai. Em 2023, eles receberam o órgão e um antropólogo para tirar dúvidas sobre a antiga delimitação apresentada pela própria Funai, dos anos 1990, quando um antropólogo teria indicado a ausência de indígenas Anacé na região. “São empresas e mais empresas”, lamenta Marcelo ao passar por incontáveis loteamentos no território.

Mais do que uma luta por saúde e dignidade humana — os Anacé do Cauipe também demandam saneamento básico, água encanada nas casas e ampliação dos serviços públicos na região —, a comunidade denuncia o prejuízo do complexo à cultura indígena.
O rio Cauipe é o fornecedor de água para o Complexo Industrial do Portuário do Pecém. Nas usinas termelétricas, a energia é produzida pela queima do carvão mineral (já moído) em uma fornalha para aquecer água, gerando vapor, que por sua vez movimenta as pás de uma turbina, ligada a um gerador de eletricidade. Após voltar ao estado líquido, essa água vai para as torres resfriadoras das caldeiras.

São 800 litros de água diários retirados do Cauipe para o funcionamento das termelétricas. “O rio é sagrado. O rio Cauipe é onde caminha o Grande Espírito”, diz Marcelo. “Então tem uma espiritualidade. Assim como tem o nosso cemitério, que é de 1630, e que quiseram derrubar. A gente fez uma zoada na época e tá lá, não tiraram o nosso cemitério. A gente tem que pelo menos conseguir segurar o que ainda restou.”
O impacto socioambiental da alta demanda hídrica das termelétricas é agravada no semiárido, já que faz com que a população acabe “competindo” água com os empreendimentos.
A transição energética é a solução não apenas para a crise climática, como também para diversos pontos de tensão sociais envolvendo acesso a direitos básicos e à saúde. Isso se a implementação dos empreendimentos for responsável; caso contrário, as usinas renováveis podem provocar tantos conflitos quanto aquelas à base de combustíveis fósseis.
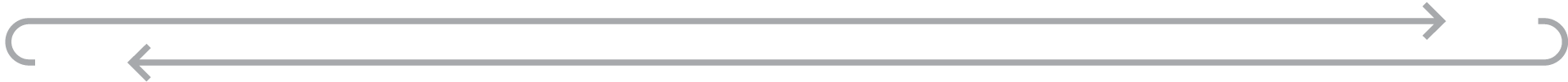
A energia solar pode ser produzida de duas maneiras: a forma descentralizada, com pequenas usinas destinadas ao abastecimento de casas específicas, e a centralizada, com grandes usinas solares, também chamadas de fazendas solares.
Foi somente a partir de 2015 que a expansão solar realmente alcançou o Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a energia começou a ser democratizada no País após dez anos de atraso no desenvolvimento da matriz; atualmente é a maior em número de empreendimentos, mas a quinta em produção de energia, à frente apenas da potência das duas usinas nucleares de Angra (RJ).

“As usinas solares são parte da solução (da crise climática)”, explica o biólogo Paulo Marinho, doutor em Ecologia e professor de Biologia na rede estadual do Ceará, “mas elas também têm sido parte do problema, por causa do desmatamento.”
“Elas preveem a implantação de placas solares em grandes áreas, são centenas ou milhares de hectares”, comenta. E é justamente por causa do desmatamento (também chamado de mudança do uso da terra) que o Brasil figura entre os maiores emissores históricos de gás carbônico no mundo.
Ao desmatar a área vegetal, o carbono estocado é emitido na atmosfera e perdemos os serviços de captura desse mesmo carbono. De acordo com relatório da plataforma MapBiomas, as energias renováveis solar e eólica são o terceiro maior vetor de desmatamento no bioma Caatinga entre 2020 e 2023. No ano de 2023, elas foram o principal vetor de supressão vegetal do bioma.
“Um dos principais impactos desse desmatamento é a perda e a fragmentação de habitat”, prossegue Paulo. “Eu impeço o livre trânsito de espécies e as isolo também.” Como a expansão das usinas solares ainda é recente, existem poucos relatos de casos do tipo relacionados às grandes fazendas solares, especialmente na América do Sul.
É o que reforça estudo publicado neste mês, junho de 2024, na revista científica Conservation Letters. O estudo analisou mais de dois mil artigos da literatura cientifica, dos quais 180 tratavam de impactos das usinas fotovoltaicas sobre a biodiversidade ou medidas mitigadoras desses impactos. "O estudo reforça o pouco conhecimento que ainda temos sobre os impactos das usinas fotovoltaicas sobre a biodiversidade, e que esse conhecimento é ainda mais escasso no nosso continente, já que a maior parte dos estudos são focados nos Estados Unidos da América", explica Paulo.

A pesquisa identificou relatos de impactos em plantas, insetos, aves, microrganismos, répteis, mamíferos terrestres e morcegos; além de as usinas fotovoltaicas afetarem algumas características climáticas do entorno, como umidade e temperatura, e os serviços ecossistêmicos. Outro efeito curioso das fazendas solares é o "efeito lago", no qual "aves e insetos aquáticos confundem painéis solares com corpos d’água, colidindo com a infraestrutura quando tentam pousar".
"Isso também pode resultar em mortalidade direta ou provocar ferimentos e aprisionamento. Esse efeito também pode ser observado em morcegos, já que os painéis também podem confundir a ecolocalização destes mamíferos voadores", comenta o biólogo.
Na verdade, os dados até existem no Brasil — afinal, as empresas são obrigadas a fazer pesquisas de impacto anterior e de monitoramento —, mas a maioria das pesquisas ou é “incipiente” ou não é publicada, afirma Paulo. Além disso, as universidades também não investem tanto em pesquisas voltadas para as solares, diferente do que ocorre com as eólicas recentemente.
No entanto, o pesquisador reflete que são as espécies de médio e grande porte que mais devem sentir os efeitos da fragmentação de habitat, pois são habituadas a deslocar-se por longas extensões terrestres. Os felinos são especialmente vulneráveis. “Aqui no Ceará, todas as espécies de felinos estão em algum grau de ameaça de extinção”, pontua o biólogo. “Menos a onça-pintada, que já está regionalmente extinta.”
Uma maneira de evitar a supressão vegetal para a instalação de fazendas solares seria instalar as usinas em áreas já desertificadas ou degradadas, sem desmatar as matas nativas do Estado. A suspeita de ambientalistas, no entanto, é que as terras preservadas são mais baratas para se adquirir e limpar.
Além de ressignificar as áreas desertificadas — em 2019, já correspondiam a 12,85% do semiárido brasileiro e 5,3% do Ceará —, o biólogo indica que a criação de unidades de conservação deveriam caminhar junto com a implantação dos empreendimentos. “Deveria ser parte da compensação ambiental, que é exigida por lei, na mesma área afetada”, sugere.
Os empreendimentos e os governos estaduais também deveriam investir em linhas de pesquisa voltadas ao estudo dos impactos das solares. Com os dados públicos e transparentes, seria possível desenvolver políticas de conservação de espécies.

As empresas de energias renováveis têm a oportunidade de transformar a estratégia de implementação das usinas e liderar uma transição energética genuinamente justa. Mas para isso, é necessário compreender e admitir os principais impactos de cada um dos empreendimentos, priorizando a transparência de dados.
A transição energética pode desenvolver regiões, garantir empregos — apesar de a maioria dos empregos gerados terem curta duração — e estimular a conservação de habitats. Isso se as empresas aprenderem com os erros do passado (e do presente) e entenderem o valor do meio ambiente e da cultura para a transição justa.
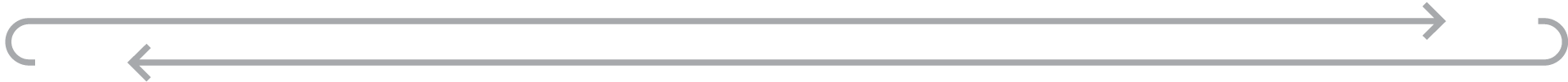
No quarto episódio, a ser publicado no dia 28 de junho, a comunidade do Quilombo do Cumbe repete a história de tensão contra o parque eólico desde 2008. Descubra como o passado e o futuro das eólicas onshore e offshore se conectam no último episódio do especial Transição Energética Justa.
Nesta série de reportagens especiais, O POVO+ explora a transição energética no Brasil, Nordeste e Ceará a partir dos potenciais climáticos e econômicos e, principalmente, a partir das tensões socioambientais na implementação de matrizes energéticas renováveis