
Séculos de luta feminista nos ajudaram a perceber a impossibilidade de falar por todas as mulheres. A compreensão da interseccionalidade do ser-mulher nos coloca em uma ambiguidade tênue entre a experiência universal de dores e felicidades do feminino e a singularidade de vivências ramificadas em raça, etnia, religiosidade, nacionalidade, sexualidade e tantas outras possibilidades da existência humana.
Por isso, o especial E.L.A.S assume a postura do infindável e propõe: não conseguimos falar por ou com todas, mas temos o privilégio de criar um espaço de diálogo em que todas são bem-vindas. Neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março, reunimos destaques das cinco entrevistas, publicadas na íntegra na plataforma O POVO (mais.opovo.com.br). Cinco mulheres foram convidadas a falar sobre maternidade, trabalho, amor, corpo e menopausa, na tentativa de apresentar essas experiências como ponto de partida para um debate embasado por dados, empatia, compreensão e verdadeira reflexão sobre o viver da outra.
No conteúdo online, as entrevistas são acompanhadas de artigos de opinião (três em cada episódio), dados relacionados ao tema e o convite desejoso de adesão das leitoras para a nossa ágora digital, a partir de enquetes e o uso da área de comentários das reportagens.
Esta temporada expande-se da primeira, na qual a temática principal foi a liberdade de envelhecer, para abraçar vozes sobre outras questões pertinentes à existência feminina (e humana). A produção do E.L.A.S é totalmente feminina: concebido pela editora do OP , Regina Ribeiro, e coordenado por ela ao lado da editora do OP Fátima Sudário. O conteúdo do especial é assinado pela repórter Catalina Leite, com fotografias da fotojornalista Fernanda Barros e arte da designer Camila Pontes e da editora de Design Cristiane Frota.
Mais do que uma boa leitura, desejamos um ótimo diálogo para nós!

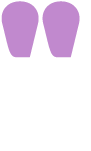 A maternagem não é coisa só de mulher
A maternagem não é coisa só de mulher 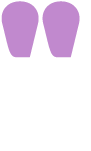
Mães são forças da natureza porque acessam, por vezes de maneira imposta, a habilidade do cuidado. Toda mulher, independente de ter filhos, é ensinada a maternar: os irmãos, os primos, os pais, os doentes e/ou os maridos. É dizer que homens também podem aprender e descobrir em si o zelo pela família.
Para a socióloga Lídia Valesca Pimentel, a lógica neoliberalista se opõe à essência da maternidade, implicando no sofrimento das mulheres-mães e na decisão de muitas a não terem filhos. Para ela, maternar é expandir-se e reconhecer-se em comunidade, conceito rechaçado pelo individualismo.

Cientista social e pesquisadora
É mestre e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Escrita Literária. Ativista de direitos humanos, é coordenadora da Casa da Sopa, associação de assistência social e defesa de direitos da população em situação de rua. Tem
52 anos, é mãe da Hannah, do Mateo e avó do André.
O POVO+ - Quando a senhora virou mãe?
Lídia Valesca Pimentel - Eu sou de 1971 e gosto de dizer isso porque eu acho que a gente tem um efeito geracional muito grande. Eu sou de uma geração que nem era a geração que pensava em casar e ter filhos, se acomodar na vida, como também eu sou da geração que se casou de novo. Eu me casei aos 24 anos e aos 26 anos eu tinha filho. Quando eu olho a geração hoje, pessoas de 30 até de 40 anos sem filhos, porque estão seguindo suas carreiras, seguindo suas vidas, fica muito notada para mim essa diferença de geração.
E eu sou cientista social, fiz graduação, mestrado e doutorado. Enfim, eu cumpri uma carreira acadêmica muito jovem ainda e sendo mãe ao mesmo tempo. Sou uma pessoa que tem um filho que é trans, um rapaz trans de 20 anos, e tem uma mulher de quase 26 anos que já é mãe, então, eu sou avó também, né? E também sou uma ativista social dos direitos humanos.
Isso meio que me levou também para uma condição de pessoa além da vida privada, que tava também para o mundo público. Eu não fui aquela mãe típica. E durante muito tempo eu me perguntava se estava sendo uma boa mãe. Como se fosse aquela culpa materna. Claro, eu tive a sorte de ter um companheiro muito presente também e dividir essa tarefa da maternagem. Então eu começo dizendo que a maternagem não é coisa de mulher. Isso é coisa de quem tem um coração que cuida, então a gente pode imaginar que existem homens que também podem exercer também essa tarefa.

OP+ - A senhora acha que seria correto dizer que todas as mulheres, mesmo não sendo mães, acabam maternando em algum momento?
Lídia - Eu acho que sim, mas isso também é um dado da cultura, não da natureza. Porque se atribuiu às mulheres essa responsabilidade pelo cuidado. A gente vê que existe muita pressão nisso, como um mecanismo também de opressão e de fazer com que essas mulheres estejam sempre fadadas a isso.
Que força social é essa que relega às mulheres o papel de cuidadora, quando não dentro de um sistema que não é igual para todos os gêneros, né? Mas eu faço também a reflexão da importância do cuidado, por isso que eu acho que o cuidado pode vir de qualquer gênero. Os homens também podem cuidar, e quando eles cuidam, eles maternam também. Toda vez que você cuida de alguém, você exerce essa maternagem.
Eu sou muito crítica dessas visões da mulher guerreira. Eu não gosto, sabe? Dizem que eu sou uma mulher guerreira, mas isso trouxe muitas consequências pra minha vida. Muito estresse, muita ansiedade, muitas questões. Mas ao mesmo tempo isso me ajudou a ter muita força, e a força também é um atributo muito importante nas mães. Você precisa ter força para criar, para o parto, para amamentar, para cuidar. Essa força está na espécie humana de modo geral, mas ela acaba aparecendo mais nas mulheres.
Então, quando você opera uma mudança social com mulheres engajadas nela, o potencial de transformação é muito grande. A força delas é maior porque, como esse papel foi socialmente atribuído a ela, ela opera essa energia dela para a criação da própria vida, e a partir daí ela pode transformar o mundo.
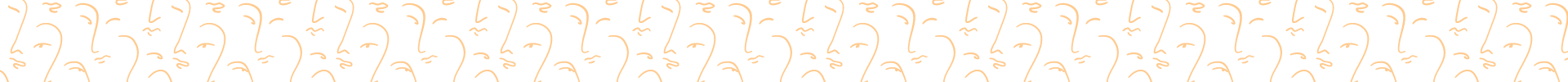
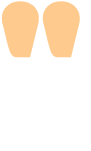 Padrão mesmo é uma mulher comum
Padrão mesmo é uma mulher comum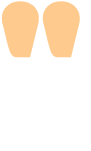
O corpo das mulheres é uma constante disputa. Os padrões de beleza flutuam ano após ano, com trends, produtos e as mil e uma possibilidades de intervenções estéticas plásticas. Para além da pressão estética, o corpo feminino também vira campo de batalha quando se discute direitos reprodutivos e a própria definição de gênero.
Se uma mulher rejeita a maternidade (ou melhor, a gestação em si), ela não é "mulher de verdade". E se uma pessoa se entende uma mulher trans, pior ainda, diz a sociedade. A artista cearense Dami Cruz, mulher trans, discorre sobre padrão de beleza, envelhecimento e a máquina que vende corpos impossíveis para as mulheres.

Estilista e artista
Figurinista, aderecista e cenógrafa cearense, com 40 anos de experiência em criação e execução de figurinos para as artes cênicas e o audiovisual. Dentre seus trabalhos no teatro destaca-se “A Raposa das Tetas Inchadas”, do grupo Teatro Novo. E no audiovisual, os filmes “O Quinze” de Jurandir de Oliveira, “A Lenda do Gato Preto” de Clébio Viriato, entre outros.
O POVO+ - Quando se fala das experiências das mulheres no mundo, a conversa sempre acaba entrando na questão do corpo. Mas o que esse corpo significa de fato?
Dami Cruz - Tem uma coisa imposta no meio disso tudo que é um ideal de beleza construído, fabricado e que nunca responde à realidade de quase ninguém. E nós, mulheres trans, ficamos perseguindo essa referência para ter uma passabilidade trans. O que é isso? É o tanto que eu pareço com a mulher, o tanto que eu convenço para as outras pessoas que eu sou uma mulher cis na minha aparência. Essa cobrança é muito forte, porque muitas de nós às vezes até se mata por conta disso. Não no sentido de suicídio, mas de ficar aplicando produtos químicos, silicone, às vezes de forma clandestina, para ficar mais parecida com uma mulher cis.
E na minha idade, eu tenho 65 anos, fica também essa cobrança da pele que já não é mais a mesma. ‘Ah, ela tá tão estranha, envelhecida… Toda despencada.’ Quer dizer, as cobranças são muitas em cima da figura da mulher, e no caso das mulheres trans a cobrança é muito pesada.

OP+ - Existe um medo muito grande de envelhecer, ou melhor, de transparecer que você envelheceu. E eu lembro de uma entrevista sua para o Vida&Arte em que a senhora comenta que a expectativa de vida cis está crescendo, e a trans caindo. Como a senhora vê esse envelhecimento do corpo?
Dami - Na verdade, é quase uma comemoração quando tem uma pessoa trans com a minha idade. A gente fica sendo festejada. ‘Como assim resistiu?’ No meu caso, eu resisti a uma ditadura militar, porque eu era uma gay bastante afeminada, e ainda quis ser artista; depois eu resisti a uma epidemia de HIV/Aids, aí depois eu resisti a uma pandemia de Covid-19 que foi no mundo todo, e, nisso tudo, eu consegui vencer toda uma onda de preconceito.
Quer dizer, esse negócio de envelhecer… Na verdade, eu nunca paro para pensar sobre isso. Eu só sei que eu estou velha porque as pessoas me dizem: ‘Ai, eu te admiro tanto, você chegou aqui!’. Eu fui a um encontro no Museu da Imagem e Som (MIS) e tinha uma menina com 30 e alguma coisa já se achando velha, outra com 40 e alguma coisa também já como uma pessoa madura. Quer dizer, essa menina já tava passando um pouco dessa expectativa de vida das pessoas trans que é de 36 anos.
Eu não tenho nem muito tempo para pensar sobre essa coisa da beleza, porque eu sou artista e tenho muitas ideias, muitos planos e projetos. É claro que o meu corpo já não é mais o que eu tinha há 30 anos, mas essa não é minha preocupação principal. De vez em quando, sim, eu olho no espelho e fico bege: ‘Ai, tá muito murcha, a cara tá muito caída’ (risos). Mas eu não fico pensando sempre que eu estou envelhecendo, envelhecer não tem me feito mal.
Eu acho que eu agora escuto mais, falo menos. A gente quando tem uns 20, 30 anos, quer dar a opinião sobre tudo. Hoje eu já fico mais quieta, entendendo mais. Acho que isso é que a maturidade está me trazendo.

 Sou otimista com a possibilidade de mudança
Sou otimista com a possibilidade de mudança
Com carteira de trabalho assinada ou não, toda mulher é necessariamente uma trabalhadora. Responsabilizadas pelo cuidado do lar, elas trabalham como faxineiras, cozinheiras, cuidadoras, gestoras e em tudo o que estiver pelo caminho. Praticamente nenhuma dessas funções sai da carga horária quando as mulheres entram no mercado de trabalho. E mesmo que saia, nas famílias com mais condições financeiras, são mulheres, majoritariamente negras, as substitutas.
A ex-ministra e assistente social Matilde Ribeiro discute o cenário do trabalho para as mulheres no Brasil de 2024 e aponta como, apesar dos avanços, a desigualdade segue imensa. Além do gênero, questões de raça e de classe cruzam as mulheres-trabalhadoras que se veem sozinhas, cansadas e desvalorizadas.

Ex-ministra e professora na Unilab
Ex-Ministra da Igualdade racial, no período entre 2003 e 2008, e, atualmente, professora na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro brasileira (Unilab). Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e Doutora Honoris Causa pela Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC). É colunista do O POVO+.
O POVO+ - O que a senhora acha que trabalho significa para as mulheres, considerando o histórico da luta feminista pelo direito a uma carreira?
Matilde Ribeiro - Desde muito cedo, principalmente as mulheres pobres trabalham de maneira remunerada ou não. Com isso, o trabalho se torna um valor fundante da vida. Quando se tornam adultas, a maioria das mulheres estão sujeitas a duplas, triplas jornadas de trabalho, e muitas delas executam o trabalho doméstico de maneira profissional.
Dada a maior importância social histórica colocada para as funções que acontecem no mundo público, o trabalho doméstico é altamente desvalorizado, seja o da dona da casa, seja da empregada doméstica. É extremamente desvalorizado e é o tipo de trabalho que só é percebido quando não é feito. Assim como também as próprias mulheres que executam o trabalho, seja remunerado ou não, têm a percepção de que não trabalham.
Quando você pergunta a uma mulher: ‘Você trabalha?’, e ela fala ‘Não, só cuido da casa’, aí há uma distorção histórica e nenhum interesse em valorizar este tipo de trabalho dentro desse sistema desigual capitalista que nós vivemos. E quando então elas partem da vida em família para o espaço público, vivem isso com muitas dificuldades, porque historicamente não há o preparo para a vida pública e nem a qualificação profissional para essa maioria que estamos falando.
Embora hoje nós estejamos vivendo algumas guinadas. Por exemplo, as mulheres têm maior tendência em permanecer nos espaços de estudo secundário ou mesmo no estudo de nível superior. As tendências mostram que elas estão em maioria nos espaços de trabalho, e em algumas profissões que antes eram consideradas apenas masculinas.
Mas outra questão é que o fato de estudarem, de se qualificarem, seja do ponto de vista do ensino secundário ou superior, não é garantia de melhor posição no mundo do trabalho, né? Ainda existe uma distância muito grande entre o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher. O que é considerado de maneira irreal, porque todo trabalho pode ser de todo mundo desde que sejam criadas as condições para isso.
OP+ - Por que nós ainda temos tanta dificuldade de reconhecer o trabalho doméstico, de legitimá-lo como algo que demanda esforço, expertise…?
Matilde - Bom, são vários os fatores. Primeiro que o Brasil desde os anos 40, 50, deixou de ser um país rural para se tornar um país industrializado, e junto com isso houve uma revolução industrial, no sentido de um aceleramento muito grande do crescimento da indústria em detrimento das outras áreas — e mais recentemente a corrida para automatização. Então está aí o valor do trabalho. Do ponto de vista do desenvolvimento, o trabalho industrial, chamado produtivo, é mexendo com grandes potências de desenvolvimento e crescimento. Isso engole os demais ramos.
Agora tem também outro elemento histórico que não se pode negar, embora o Brasil sempre tenha passado uma borracha em cima disso, que é a herança escravocrata. O trabalho doméstico desde a época da escravidão foi realizada, em geral, pelas mulheres escravizadas, comportando também em algumas áreas homens.
E por ter sido durante séculos feito pelos escravizados, principalmente pelas mulheres negras escravizadas, isso entra para o imaginário social como um elemento de não valia. Tanto é que até hoje, século XXI, a gente vive situações de trabalho análogo à escravidão e uma boa parte dele está no mundo doméstico.

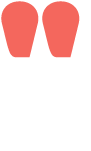 Ao nosso redor, tudo é amor
Ao nosso redor, tudo é amor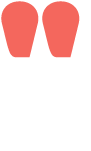
O amor é costumeiramente identificado como força motriz das mulheres. Se não no escopo romântico, então na maternidade. O amor feminino é visto como a delicadeza, a gentileza, a ternura… É verdade, o amor move as mulheres. No entanto, a liderança indígena Áurea Anacé dá uma nova faceta ao amor feminino: o feroz de luta.
Representante do povo Anacé, localizado em Caucaia (CE), Áurea fala sobre como o amor pelo território, pela espiritualidade e pelo povo dá sentido e potência à resistência indígena protagonizada por mulheres e jovens, e demonstra que há muito a se aprender com as mulheres que amam vidas, sejam elas humanas ou não.

Liderança indígena
Liderança indígena do povo Anacé, de Caucaia (CE). Áurea representa as mulheres indígenas Anacé e participa como porta-voz de seu povo no ativismo social, participando de eventos como a Marcha das Mulheres Indígenas. É secretária da Articulação de Mulheres Indígenas do Ceará (Amice).
O POVO+ - Áurea, como o amor se materializa para você? Além do amor romântico…
Áurea - Olha, o amor que eu sinto nesse momento é mais pelo território, por isso que vocês estão vendo aqui. A gente luta cada dia mais para que isso não morra, não se acabe. Eu acho que o amor que nós estamos vivendo no momento é de luta, de conquista de tudo que a gente tem do território.
Eu moro aqui com o cacique Roberto, mais quatro filhos e o neto. E eu sou mãe de todo esse povo, né? Que são 26 aldeias localizadas do rio Cauípe ao rio Juá, e eu vivo nessa luta por esse território. Para que essa riqueza não se acabe, porque tem vários empreendimentos tentando destruir isso aqui.
A gente luta pelos rios, pelas lagoas. Tem um amor muito forte por esse território, é daqui de onde essas pessoas, mulheres, tiram o alimento. A gente vive dentro desse contexto, defendendo essa vida, para que as novas gerações tenham um pouco disso tudo que vocês estão vendo.

OP+ - O que a espiritualidade e a cultura de vocês ensina sobre o amor especificamente?
Áurea - Ao nosso redor, tudo é por amor. Uma árvore dessa, para a gente, um pedaço dela foi um dos nossos antepassados que veio por ela. Se nós temos uma árvore, essa aqui é a nossa árvore sagrada, no meio do terreiro, é onde a gente faz os rituais mais importantes. Os pássaros para nós são importantes, os rios também… A gente tem essa vivência, conquista, e às vezes até perdas.
Então assim, para nós, cada planta dentro desse território tem vida. São vidas que estão aqui dentro. E se eles não podem falar, nós podemos falar por eles; se eles não podem resistir, nós resistimos por eles. É muito importante a nossa vida no território. Se nos tiram do território, tiram um pedaço. E se tiram o território da gente, também se leva outro pedaço.
OP+ - Mas esse já era o seu entendimento sobre o amor desde nova?
Áurea - Eu como era minha irmã mais velha, eu me casei muito nova, né? Tive meu filho com 16 anos e aí passou do tempo e eu fui cuidar dele, depois conheci o cacique Alberto e aí tive o primeiro filho e desde então eu venho acompanhando a luta dele por esse território. Já faz 26 anos, que é a idade do nosso filho mais velho. Há seis anos que eu estou aqui dentro, porque então eu estava lá fora (do território indígena) enquanto eles estavam aqui dentro para fazer a construção.
E aí depois que eu vim conhecer o porquê dele estar aqui dentro, o porquê da luta dele, o porquê ele ficava tão nervoso com algumas coisas que aconteceram e ele não levava muito para a gente…. Foi quando eu realmente eu vim ter todo o conhecimento de toda essa resistência, depois que eu vim morar aqui dentro.

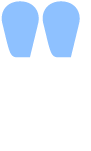 Na menopausa, quem não tem informação sofre mais
Na menopausa, quem não tem informação sofre mais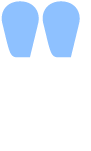
Ao lado de menstruação, menopausa é outra palavra do universo feminino curiosamente mágica, capaz de silenciar todos ao redor. Assim como a primeira menstruação, a menopausa é um momento específico que ocorre, em geral, entre os 45 e 55 anos de idade, em decorrência do gasto total de ovócitos "Como são chamados os óvulos antes de serem fecundados" . A partir dela, a produção de hormônios como o estrogênio vai caindo aos poucos, acarretando sintomas variados, como calorões, fadiga, perda de memória, ressecação vaginal e até depressão.
O tabu envolvendo a menopausa, no entanto, força as mulheres a se resignarem aos sintomas e a não buscarem tratamentos eficazes, preocupante cenário de saúde pública ao lembrar que a população brasileira está envelhecendo. A médica ginecologista Lúcia Costa-Paiva explica o que é a menopausa, os avanços da Medicina sobre a especialidade e, principalmente, sobre como a sociedade encara o fenômeno e porquê ele é tão temido.

Ginecologista
É presidente da Comissão Especializada de Climatério da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), professora titular de Ginecologia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas (Unicamp) e coordenadora do Ambulatório de Menopausa - Unicamp.
O POVO+ - Quando foi que a Medicina começou a estudar, de fato, a menopausa do ponto de vista da saúde da mulher?
Lúcia Costa-Paiva - Como especialidade é uma coisa relativamente nova, digamos que a partir dos anos 1970, o que de fato é bem recente se a gente comparar com o tanto que conseguimos avançar em pesquisa.
As mulheres passavam pela menopausa achando que fazia parte do envelhecimento e que tinha que suportar os sintomas. E isso ao longo dos anos vem mudando, né? Embora ainda exista essa cultura, a gente hoje sabe que não é preciso sofrer. Se realmente os sintomas estiverem incomodando, temos opções terapêuticas bem eficazes, que possibilitam passar pela menopausa de uma forma menos incômoda.
OP+ - O que exatamente é a menopausa? É algo que você vai conviver o resto da vida ou ela é um período de transição que tem vários sintomas?
Lúcia - O período de transição é o climatério. É essa fase assim que a gente parte do período reprodutivo, no qual ela pode engravidar, para a fase não reprodutiva, que dura a vida toda. Esse período não tem uma idade muito fixa, porque é variável de mulher para mulher. Agora, a menopausa significa pausa da menstruação. É um dia na vida dela em que ela teve a última menstruação. Então, menopausa é um evento dentro do climatério.
É como se o climatério fosse a adolescência e, nela, a gente tem a primeira menstruação. É a mesma coisa: dentro do climatério, a gente tem a menopausa. É que na prática a gente acaba colocando a menopausa como se fosse um período, mas aí o correto seria pós-menopausa.
OP+ - E os sintomas são comuns para todas as mulheres?
Lúcia - Existe um leque de sintomas que conhecemos bem. Agora, o que cada uma vai ter depende muito. Para umas é mais a onda de calor, para outras pode ser mais a parte emocional, psicológica; para outras pode ser mais a parte vaginal… Tem aqueles mais comuns, sim, mas varia um pouco de mulher pra mulher.
E de novo, esses sintomas acontecem durante o climatério. No momento que você começa a ter esses sintomas, eles vão lhe acompanhando. E aí entra a questão de tratar (com tratamento hormonal) se eles forem muito intensos.
A última menstruação acontece por volta dos 50 anos. Essa é a média, mas é considerado normal entre 40 e 55 anos. Quando o ovário começa a dar sinais de falhar, já começam a ter esses sintomas no que a gente chama de perimenopausa, essa fase dos anos que antecedem a menopausa, porque ela não vai parar de menstruar de repente. Ela vai pular um mês, ou a menstruação que é regular fica aí dois, três anos variando… Então algumas mulheres já começam a ter esses sintomas na perimenopausa, e têm aquelas que não conseguem esperar a menopausa porque já está com sintomas fortes e, às vezes, a gente tem que começar a tratar antes.
Os sintomas são mais intensos nos primeiros três, cinco anos de menopausa. Depois eles tendem a durar em média sete anos a oito anos, mas vai ficando mais fácil, com o tempo vai diminuindo de intensidade alguns sintomas, por exemplo aqueles calorões que eu acho que é uma das que mais incomoda. Outros, como a parte vaginal, é ao contrário, com o passar dos anos ele vai piorar.

Com a emancipação feminina as mulheres ascenderam culturalmente e hoje andam por toda parte, discutindo, criando, agindo e governando. E assim aparece espaço para discutir-se a sexualidade feminina e cresce a medida da sua maturidade. Afinal, existe um potencial para o prazer erótico que é desenvolvido a partir do nascimento e segue até a morte do indivíduo. No entanto, a idade cronológica não serve para nivelar respostas sexuais, porque cada pessoa terá mudanças ao longo da sua história de vida, seja homem ou mulher, sejam prazerosas ou não.
A minha experiência clínica como terapeuta sexual de acompanhamento ao longo dos últimos 25 anos, possibilita sentir na fala destas mulheres as mais profundas emoções evidenciadas na busca afetiva. Fala-se de sentimentos e emoções no cotidiano. Uma tarefa difícil, porque nem sempre é permitido vivenciá-las de forma integral. Interroga-se desempenhos e não sentimentos no que há de mais profundo: o santuário amoral da sexualidade.
Transformações biológicas aparecem com a modificação da vascularização dos órgãos sexuais e na mulher, começam com a menopausa pela alteração hormonal resultando em respostas físicas e podem causar intolerância para relação. No entanto, o exercício da sexualidade pode ser estimulante se for trabalhado e orientado com intuito de mudar estas características e estimular o prazer para mulher.
Não está nos frascos, nas ampolas; não é a pílula, nem são gotas milagrosas, mas reflete-se na postura, na voz, no brilho dos olhos, no sorriso, no dinamismo, na desenvoltura, no “élan” vital. E o que é isso, então? Isso se chama alegria de viver. Chama-se de amor à vida. Sabemos que desgosto envelhece e mata, pode-se crer que o gosto conserva a vitalidade e prolonga a vida. Para uma mulher madura, a palavra entusiasmo pode trazer um novo formato de vida e reorganizar desejos, esperança e prazer sexual.
Zenilce Vieira Bruno (CRP 11/1702) é psicóloga clínica, psicodramatista e terapeuta sexual. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e articulista do O POVO+.
A menopausa, um estágio natural na vida de todas as mulheres, há muito tempo foi relegada ao silêncio e ao tabu. O assunto que não deve ser abordado. Nem com nossas mães a gente fala sobre isso, muito menos com os parceiros. O resultado? Mulheres sofrendo sozinhas, sem informação, sem acesso aos recursos que tornariam essa fase tão mais fácil. No entanto, é hora de mudar essa narrativa e trazer à luz esse importante aspecto da saúde feminina. A menopausa não é um tema exclusivo para ser discutido em sussurros ou embaraços, mas sim um processo fisiológico que merece ser normalizado e compreendido em sua totalidade.
Primeiramente, é fundamental compreender o que é a menopausa: é o fim do ciclo menstrual de uma mulher, marcando o término de sua capacidade reprodutiva. Mas, vale lembrar, não de nossa capacidade produtiva. Embora seja um fenômeno natural, muitas mulheres enfrentam desafios físicos e emocionais durante esse período de transição por conta da redução dos hormônios. Isso inclui sintomas como ondas de calor, alterações de humor, insônia, ressecamento vaginal, entre outros. A lista passa de 30 sintomas, que podem afetar as mulheres em diferentes intensidades. Ignorar esses desafios apenas perpetua o estigma em torno da menopausa, impedindo as mulheres de procurar ajuda e apoio quando mais precisam.
Além disso, a menopausa não afeta apenas as mulheres que a experimentam, mas também suas famílias, parceiros e comunidades. Ao normalizar a discussão sobre a menopausa, podemos criar um ambiente de apoio e compreensão para todas as mulheres que passam por essa fase de vida. Isso inclui educar homens e jovens sobre o que é a menopausa e como podem apoiar suas mães, irmãs, amigas, durante esse período de transição.
Outro aspecto crucial é o impacto da menopausa no local de trabalho. Muitas mulheres enfrentam discriminação e falta de apoio no ambiente profissional devido aos sintomas associados à menopausa. Isso pode levar a uma diminuição da autoestima, produtividade reduzida e até mesmo afastamento do trabalho. Ao normalizar a conversa sobre a menopausa, podemos pressionar por políticas e práticas de trabalho mais inclusivas e sensíveis às necessidades das mulheres.
Além disso, é importante reconhecer que a menopausa afeta mulheres de todas as origens étnicas, culturais e socioeconômicas. Portanto, é essencial que todas as vozes sejam ouvidas na conversa sobre a menopausa, garantindo que as necessidades de todas as mulheres sejam atendidas.
A normalização da menopausa também é crucial para combater mitos e desinformação. Muitas vezes, a menopausa é retratada como o fim da vitalidade feminina, quando na realidade muitas mulheres encontram uma nova sensação de liberdade e autoaceitação nessa fase de vida. Ao desafiar esses estereótipos prejudiciais, podemos ajudar as mulheres a abraçar a menopausa como uma parte natural e positiva de seu desenvolvimento.
Já passou da hora de tirar a menopausa do armário e trazê-la para o centro da conversa sobre saúde feminina. Ao normalizar a discussão sobre a menopausa, podemos fornecer apoio vital às mulheres que passam por essa fase de vida e promover uma sociedade mais inclusiva e compassiva para todas.
Silvia Ruiz tem 53 anos. É jornalista e influenciadora, autora da coluna Ageless do UOL, foi pioneira ao criar um espaço para falar sobre maturidade e a romper tabus sobre temas como envelhecimento e menopausa na grande mídia e no Instagram há mais de cinco anos.
Me chamo Fabiana Fontes, sou nutricionista e tenho 46 anos. Trabalhando com saúde da mulher e com menopausa, sei que a entrada no climatério (que pode durar até 10 anos até a chegada na menopausa), não é uma fase fácil e ainda apresenta uma grande complexidade mesmo para nós da área da saúde.
As mudanças que aconteceram comigo foram por volta dos 40 anos. Eu já vinha acompanhando de 6 em 6 meses os meus exames de sangue hormonais e via que algumas taxas de leve iam se alterando, bem lentamente. Porém, o que chamou atenção era a minha falta de disposição, cansaço, irritabilidade extrema e falta de libido.
Mesmo que alguns endócrinos e ginecologistas já discutam o que deve ser feito, ainda acho que falta clareza. Me senti um pouco perdida nesse novo mundo. Usei vários fitoterápicos e intensifiquei a nutrição, que me ajudaram muito nesse início. Os anos foram passando e descobri que precisava de algo além disso, foi quando o endocrinologista que trabalha comigo entrou em ação, me ajudando de perto, porque começaram a aparecer os terríveis fogachos e a insônia junto.
Percebi, também nessa fase, a dificuldade das mulheres em falar uma com as outras sobre isso. Parece que elas têm vergonha, que a menopausa ainda é um tabu, como se a "velhice" batesse à porta. E, é claro, não queremos dizer que estamos finalizando um longo ciclo de período fértil, como se os parceiros fossem nos olhar de uma forma diferente, e isso incomoda.
Eu não tive mudanças corporais como ganho de peso e gordura abdominal, mas procurei cuidar ainda mais de perto da alimentação e aumentei exercícios fisicos porque sei que tudo ficaria mais lento e difícil. Algumas amigas reclamavam desse ganho de gordura, de fato bem comum. Sei que é um momento delicado na vida da mulher e que muitas nem percebem, porque o climatério pode durar até 10 anos com esses sintomas de cansaço e irritabilidade tão comum em vários momentos da nossa vida. Confunde muito: será que estamos no climatério ou só uma fase de trabalho e de maior demanda?
O que devemos fazer é não negligenciar o que estamos sentindo, buscar ajuda de vários profissionais e conversar mais sobre isso, tanto com parceiro, quanto com amigas. Parei para pensar que estamos envelhecendo, mas estamos vivas! Então é a hora de voltar um pouco mais de atenção para nós e procurar nos informar e entender um pouco sobre o que está acontecendo para lidarmos da melhor forma possível como essa nova fase que veio p ficar e não se esconder dela.
Percebo que cada vez mais essa fase chega cedo, por volta dos 40 anos, idade que estamos no auge profissional e muitas vezes amoroso. Estou buscando a reposição hormonal, não comecei, mas estou fazendo um check up completo esse ano, para pensar forte sobre isso. Acredito que vai melhorar muitos dos sintomas e ajudar na melhora da minha qualidade de vida.
Fabiana Fontes (CRN 18870) é nutricionista com foco na saúde da mulher, gestantes, fertilidade, endometriose, síndrome de ovários policísticos e menopausa.
Diversas mulheres estão compartilhando suas vivências com a menopausa na internet, e nada melhor do que criar uma rede de experiências compartilhadas. Separamos três perfis de influenciadoras no Instagram com foco na menopausa. Confira:
Leila Rodrigues, do @menospausamaisvida
Leila Rodrigues é palestrante, escritora e empresária no segmento de tecnologia. Partindo da sua experiência pessoal com a menopausa precoce, se tornou uma estudiosa do assunto e fez desse tema a sua causa.
Julieta Zarza, do @peripeciasmenopausicas
Julieta Zarza é argentina, intérprete e criadora de grande produção autoral. Atua principalmente nas artes cênicas e audiovisuais com humor e poesia visual. É coordenadora do Peripécias Menopaúsicas.
Dani, do @antesdoscinquenta
Aposentada e compartilhando no Instagram a vida antes dos cinquenta desde 2018, Dani fala sobre todos os desafios da menopausa (principalmente porque nunca ninguém nos conta sobre o que esperar) com postagens divertidas e intimistas.


Que tal responder à enquete abaixo e usar o campo dos comentários para discutir sobre a sua experiência com a menopausa? Você já passou pela menopausa? Foi um período com acolhimento? E para quem não passou, é algo que te assusta ou te preocupa? Vamos conversar nos comentários!

“– Eu te amo, Nádia!”, diz o narrador no conto de Tchekhov, a voz camuflada pelo vento contrário ao trenó deslizante. A jovem que ele conduz se perturba, não sabe se ouviu bem, a clareza da audição prejudicada pelo ruído intenso. De todas as sentenças possíveis, “eu te amo” talvez seja a mais perturbadora e difícil de escrever sem pieguismo, como fez o contista russo. Na icônica história de amor, Shakespeare não a usou. Em cerca de 130 páginas – conforme a edição –, “eu te amo” não é protestado por Romeu ou por Julieta.
Também nas veredas sertanejas “eu te amo” não foi dito. Mas Riobaldo deu a Diadorim as asas de todos os pássaros. Confessou: “Diadorim é minha neblina.”
“Eu te amo” é um incendiário arranjo de termos, queima, se consome antes do uso. Nele há duas pessoas: eu, tu, e o verbo que se conjuga, liga os dois seres da oração.
Voltando à Brincadeira, quem diz que ama repete a frase, mas, quando diz isso, não ama, diverte-se com a confusão da moça. Ela não sabe se o som do vento alterou o sentido, se as palavras sequer foram ditas. Mas renova o passeio, quer sanar a dúvida.
“Deus meu, o que se passa com Nádenka! Ela solta um grito, sorri com o rosto inteiro e estende os braços ao encontro do vento, risonha, feliz, tão bonita.”
O homem ignora que é instrumento do amor, potência incontrolável, como um trenó em descida. Falamos do mesmo sentimento que, em Verona, de início, não foi o tema central da tragédia. Segundo Barbara Heliodora, a peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, datada de 1595, é uma versão de um texto anterior, de 1562, centrado na desobediência própria do espírito juvenil e de tom moralizante. A tecitura shakespeareana se diferencia pelo amor posto no cerne do drama, tornando-se a lua para os apaixonados de todos os tempos.
O amor traga em Rosa, desarma, subjuga os amantes ao domínio do imponderável, supera princípios arraigados, as crenças e os comportamentos antes tidos inabaláveis.
No trenó, uma reviravolta modifica a realidade. Ocorre a perda do controle – lamento pelo spoiler. Nádia não ama o homem, ama o vento, a emoção ao vento atribuída.
O amor aturde, venta nos tímpanos, neblina na secura, confunde cotovia e rouxinol. Isso bastaria para explicar por que é pilar de sustentação na obra literária. Neve a baixo, balcão a cima, sertão a dentro, amar é força motriz, que transforma, para além das declarações e das juras, recriando a ficção e, pela ficção, a vida.
Marília Lovatel cursou Letras na UECE e é mestre em Literatura pela UFC. É escritora, redatora publicitária e professora. É cronista no O POVO+. Autora de livros publicados pela Scipione, Moderna, SM, e Editoras do Ceará, foi finalista do Prêmio Jabuti 2017.
Quando me entendi mulher que ama mulheres, o primeiro discurso que pareceu certo era o de que todas somos pessoas, não importa o corpo, porque somos pessoas e isso é o que atrai. Essa lembrança vem de repente e traz um sorriso irônico. O fato de sermos mulheres que se amam e se desejam importa.
Somos vidas atravessadas e socializadas por um pensamento hegemônico de que somos menores; de que valemos menos; de que depois de certa idade ou de alguns processos naturais de uma vida bem vivida “já não servimos”. Somos um coletivo que é atravessado pelo contexto no qual mulheres são mortas por serem mulheres e que, ainda, nosso modo de vida seria de comparação constante (para não dizer competição constante) entre nós.
Por meio do nosso amor, de mãos dadas, criamos pontes. As fronteiras entre as peles e os risos se perdem; beijos juntam todas as ilhas, todos os mares, todos os rios. Erotizo esse território que durante anos aprendi que devo criticar.
É único como aprendemos a amar a nós mesmas e amar a outra. Este amor que — como mostra bell hooks — é ação e mistura vários ingredientes: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, honestidade e comunicação aberta. Este amor que é construção cotidiana, consigo mesma e em comunidade.
E, se o desejar é importante, também o é esse (des)aprender do que queremos. Mesmo o ato mínimo de beijar as “imperfeições” da outra é como dizer: eu não só aceito e quero este meu corpo e suas histórias, como também quero os de minha companheira.
O amor entre mulheres é uma potência que transforma nossas existências. O amor entre mulheres anuncia a possibilidade de rompermos o ciclo de perpetuação de dores e violências para construirmos outros mundos possíveis — outros mundos mais amorosos.
Marcela Tosi é jornalista e internacionalista. Parte paulistana, parte cearense. Vive o amor, em suas diversas possibilidades, como força motriz da vida. Atualmente, é editora-adjunta de Audiência e Distribuição no O POVO.
Uma das muitas coisas preciosas que bell hooks nos aponta, no maravilhoso livro Tudo sobre o amor, é de como a forte estrutura de dominação alicerçada pelo patriarcado e pelo capitalismo, juntos, produzem distância e afastamento entre as famílias nucleares e as famílias estendidas. Enquanto a família estendida se constitui como um lugar onde podemos aprender o poder da comunidade, em geral, os abusos de poder aumentam nas famílias nucleares. No entanto, sempre que curamos nossas feridas familiares, fortalecemos a comunidade, e isso nos possibilita o engajamento numa prática amorosa. “É o amor que estabelece as bases para a construção de uma comunidade com estranhos.”
Nos campos por onde transito, entre as dimensões artística, pedagógica e terapêutica, tenho pousado o olhar sobre as diversas camadas de vulnerabilidade que nos habitam, e das quais tanto desviamos, na maior parte do tempo. É que se estamos em busca de uma maior condição de inteireza, parece que não há outro caminho possível, a não ser nos colocarmos diante delas.
Percebo que quando há um espaço de confiança instaurado – mesmo à despeito de uma não intimidade – a partilha e a entrega fluem, e torna-se mais fácil deixar visível as vulnerabilidades. Valorizo muito esses espaços, porque sei da necessidade e da potência de instaurá-los, e de neles me nutrir, inclusive. Entre mulheres, então, espaços como esse não são luxo, são necessidade absoluta, como estratégia de acolhimento e restauração para as sobrecargas diárias.
Tornar visíveis as vulnerabilidades e colocar-se diante delas não é pouca coisa. Talvez seja o pequeno passo possível, em direção às grandes coragens. Mostrar-se como se é e caminhar com o que se é, eis um exercício de integridade necessário para testemunharmos o apuro do esforço em fluxo. E, parece-me, tudo isso junto vira FORÇA.
bell hooks nos diz ainda que “a amizade é o espaço em que a maioria de nós tem seu primeiro vislumbre de amor redentor e comunidade carinhosa. Aprender a amar em amizades nos fortalece de formas que nos permitem levar esse amor para outras interações com a família ou com laços românticos.”
O que nos fortalece, ao nutrirmos espaços-continentes de acolhimento onde possamos nos mostrar vulneráveis, é despirmos sem medo as vestes de grandes guerreiras – as que nunca param, nunca desistem, nunca esmorecem e nunca descansam. É largarmos um pouco a armadura, acessando com mais frequência alguma leveza e suavidade entre os dias, tomando o tempo necessário para melhor sentir, melhor estar, melhor sorver as coisas, os sabores, os amores.
A maior subversão para o capitalismo é parar. É não produzir, não fabricar, não fazer de ruma. É não consumir. É não ansiar pela novidade do dia, é não querer ser o novo. É não precisar. É não se afogar no fluxo vertiginoso do ter-que-fazer. Na desconstrução do tempo é que se dá a fissura, onde criamos um contrafluxo, sabendo-o sempre singular e provisório.
Ficamos mais fortes quando conseguimos desmontar a lógica da hiper produtividade capitalística, e doulamos, juntas, novos modos de vida. Se bem parimos vidas, somos capazes de bem inventarmos outros modos de existir, no revés daquele que insiste em nos matar. Quando existe a possibilidade desse momento ser experimentado em comunhão com outras pessoas, num tecido afetivo seguro e restaurador, algo enorme acontece, ainda que seja de uma ordem micropolítica, quase invisível. Um estrondo silencioso no peito: parece que engrenagem voltou a girar para o lado certo. Tudo é como tem que ser. E somos NÓS!
Podemos dançar, não somente para nos prepararmos para as guerras. Podemos dançar para celebrar o que somos: somos NÓS!
Andréa Bardawil Campos é coreógrafa, terapeuta somática e arteterapeuta. Artista da dança há mais de 30 anos, é diretora da Cia. da Arte Andanças (Fortaleza-Ce), com quem realizou dezenas de espetáculos e projetos de pesquisa de linguagem. Foi uma das criadoras da ONG Alpendre - Casa de Arte, Pesquisa e Produção, que foi uma importante referência para a arte contemporânea no Ceará e no Brasil.
Aqui vão três livros que discutem o amor:
Descolonizando afetos: Experimentações sobre outras formas de amar
Atravessada pela poética de seu povo, a ativista indígena Guarani, psicóloga e escritora Geni Núñez promove em Descolonizando afetos um exercício de repensar a exclusividade nos relacionamentos afetivos, partilhando reflexões anticoloniais sobre o tema, tanto do ponto de vista histórico e macropolítico quanto em relação às nuances cotidianas e interpessoais.
A partir de uma perspectiva original e com uma linguagem única, a autora desconstrói alguns dos equívocos mais comuns a respeito da não monogamia e desenvolve reflexões que podem servir de acolhimento a pessoas que desejam vivenciar outras formas de amar.
Autora: Geni Núñez
Editora : Paidós; 1ª edição (30 outubro 2023)
Capa comum : 192 páginas
O que é o amor, afinal? Será esta uma pergunta tão subjetiva, tão opaca? para bell hooks, quando pulverizamos seu significado, ficamos cada vez mais distantes de entendê-lo. Neste livro, primeiro volume de sua Trilogia do Amor, a autora procura elucidar o que é, de fato, o amor, seja nas relações familiares, românticas e de amizade ou na vivência religiosa.
Na contramão do pensamento corrente, que tantas vezes entende o amor como sinal de fraqueza e irracionalidade, bell hooks defende que o amoré mais do que um sentimento - é uma ação capaz de transformar o niilismo, a ganância e a obsessão pelo poder que dominam nossa cultura. É através da construção de uma ética amorosa que seremos capazes de edificar uma sociedade verdadeiramente igualitária, fundamentada na justiça e no compromisso com o bem-estar coletivo.
Autora: bell hooks
Editora : EDITORA ELEFANTE (1 janeiro 2021)
Capa comum : 272 páginas
A gente mira no amor e acerta na solidão
Escrito a partir de diálogos, A gente mira no amor e acerta na solidão surgiu de experiências vividas pela autora em salas de aula, em sessões de análise (enquanto analisante ou analista), com amigos, em leituras de pesquisas teóricas. Neste livro, a psicanalista e professora Ana Suy quer, acima de tudo, continuar essa conversa com o leitor sem a pretensão de ser um manual ou um tratado acadêmico sobre o tema.
Autora: Ana Suy
Editora : Paidós; 1ª edição (9 maio 2022)
Capa comum : 160 páginas
Que tal responder à enquete abaixo e usar o campo dos comentários para discutir sobre o amor? Como você enxerga o amor? Como você descreveria a influência dele na sua vida? Vamos conversar nos comentários!

Quando se fala de empregabilidade trans/travesti/não-binária, pensamos, muitas vezes, na necessidade de tirar pessoas trans de situações de marginalidade social por exclusões transfóbicas. Considerando pessoas transfemininas, foco desse texto, existem violências e estigmas que nos atravessam, sobretudo àquelas de nós que sofrem outras violências interseccionais, de classe, raça, território, etc.
É necessário oferecer condições para que mulheres trans, travestis e pessoas não-binárias transfemininas tenham outras narrativas que não sejam apenas ligadas à violência e prostituição. Essa discussão, entre aquelas pessoas que debatem gênero e sexualidade, já é rotineira.
Mas o que quero afirmar aqui vai por uma outra via. Não quero celebrar apenas as oportunidades conquistadas de pessoas trans em empregos formalizados, seja em empresas, associações ou instituições públicas/privadas. Quero ressaltar a sorte/potência de pessoas trans dentro desses espaços.
Quero propor que, ao menos por um instante, substituamos o "que sorte da travesti estar empregada" por "que sorte daquela empresa de ter uma travesti dentro". Falo isso, enquanto gestora de uma associação de arte contemporânea e servidora pública, por enxergar a potência e excelência que pessoas trans que conseguem ingressar no mercado formalizado se comprometem a ter em seus trabalhos.
Pensar estratégias de empregabilidade para mulheres trans, travestis e não-binárias dentro do mercado de trabalho demanda uma transformação benéfica na estrutura trabalhista - que não apenas favorece a população trans, mas a sociedade como um todo. Investimento em programas de formação sobre respeito à identidade de gênero em espaços de trabalho e escolas, políticas afirmativas em processos seletivos, educação para funcionários e principalmente para gestão dos espaços. Não fazendo isso de maneira esporádica e nem apenas no mês de janeiro, alusivo à visibilidade trans, mas no ano inteiro.
É necessário construir uma trajetória que possibilite formação de pessoas trans, capacitação dos espaços para nos acolher e, principalmente, para que nos mantenhamos e tenhamos possibilidade de ascensão. Pois não basta fomentar o ingresso de grupos minoritários aos espaços, é preciso fortalecer sua manutenção e fertilizar suas expectativas de desenvolvimento profissional. Não é um favor nos oferecer espaço na sociedade: fazemos e sempre fizemos parte dessa, construindo-a e instigando-a a pensar de maneira mais plural, múltipla e dissidente.
Somos plurais em nossa potência e em nossas narrativas. Poderia discorrer um infinito de momentos em minha trajetória de gestão na qual colaboradoras trans trouxeram potências e ganhos para a empresa, sobretudo quando tem espaço para crescer e gerir esses espaços. Pela brevidade deste texto, apenas quero afirmar, sem dúvidas, "sorte de uma empresa que tem uma travesti/mulher trans dentro".
Bárbara Banida é transartista, curadora, docente-pesquisadora e gestora cultural que pesquisa as relações entre criação em arte contemporânea, transgressão de gênero, performance, percursos da violência, pintura e ecologia do Fim do Mundo, com foco em hibridismo entre linguagens artísticas. Pesquisadora em Acessibilidade pelo Grupo de Estudos em Arte Contemporânea e Acessibilidade.
Eu poderia iniciar este texto de várias maneiras, mas recentemente uma professora universitária teve sua bolsa de pesquisa negada por ser mãe. Um dos pareceristas alegou que a maternidade prejudicou a carreira científica da candidata. Isso demonstra que, mesmo quando alcançamos o topo de nossas carreiras, as dificuldades persistem. Você consegue imaginar quantos obstáculos essa pesquisadora precisou superar ao longo da sua carreira?
Traçando um caminho para que você, que lê este texto, entenda: dados da ONU mostram que apenas 33% das cientistas do mundo são mulheres, as quais, em geral, recebem menos recursos e oportunidades de carreira, o que pode impedir o pleno alcance de seu potencial. Se desde crianças nós associamos a inteligência como algo masculino e o esforço como algo feminino por diversos fatores, isso impacta na baixa representatividade de mulheres atuando nas áreas de ciência e tecnologia, por exemplo. Sem falar nas profissões estereotipadas como a Paleontologia.
Se eu desse ouvidos às frases mais comuns, como “você vai quebrar sua unha ao pegar no martelo”, “não vai conseguir carregar os fósseis depois da coleta” ou “você vai atrasar o trabalho porque um homem faria mais rápido”, eu não estaria aqui escrevendo esse texto. Contudo, sabemos que muitas meninas e mulheres desistem ao ouvir os comentários inconvenientes dos colegas, desestimulando-as drasticamente.
Claro que ainda há muitas questões que tornam o trabalho das mulheres muito mais desafiador, que vão desde o ambiente hostil nas universidades até casos de assédio moral/sexual. O que, consequentemente, prejudica não só a Ciência, mas também nos impede de construir a sociedade que precisamos.
Embora as posições de topo pareçam inalcançáveis para nós, estamos chegando lá. A ciência ganha quando as mulheres colaboram nas pesquisas, pois o ambiente mais diverso produz ciência de maior qualidade, como demonstrado nos artigos científicos mais citados. As mulheres desejam e devem alcançar o topo de suas carreiras, mas para isso acontecer, precisamos colocar em prática o princípio da igualdade para que a ciência funcione a favor das mulheres, pois muitas vezes funciona contra elas. Proporcionar mais oportunidades para pesquisadoras é o primeiro passo para transformar essa realidade.
Flaviana Lima é paleontóloga, professora efetiva da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri Urca), mestre e doutora em Geociências (Paleontologia - Paleobotânica) pela UFPE. É curadora associada do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens de Santana do Cariri, Ceará.
Começo esse texto dizendo que demorei a finalizá-lo pelos motivos que me levaram a escrevê-lo. Sou uma mulher de 40 anos, mãe de dois filhos, que trabalha pelo menos 8 horas por dia, inclusive fins de semana e feriados. E que nas últimas semanas tem lidado ainda mais sozinha com o almoço por fazer, casa por limpar, as chaves perdidas e os chaveiros acionados tarde da noite, fardas por lavar, tarefas de casa, varanda suja da chuva, o video-game…
Sem fim. É assim que vejo as mil tarefas que preciso desempenhar todos os dias, mesmo antes de estar sozinha em uma casa com meus filhos, de 5 e 8 anos. Por muito tempo, entendia de fato ser aquele o meu papel. Assim como tantas mulheres, cresci em uma casa em que os homens não lavavam seus pratos ou varriam a casa. Bem ao contrário: por vezes, fui obrigada a limpar o quarto do meu irmão mesmo ele estando bem apto a tal tarefa. Até hoje tenho aversão a colocarem pratos na pia enquanto eu estou lá, em pé, a lavar a sujeira feita por outros. Gatilho, que chama.
Precisamos mudar a lógica das obrigações domésticas, do trabalho que exaure a mulher e é invisibilizado pela sociedade, principalmente pelos homens. É dentro de casa, com as crianças, meninos e meninas, que as noções de igualdade e equidade devem ser construídas. Desde os primeiros anos de vida. Digo isso por que, mesmo depois de gritar ao mundo que não me cansaria mais sozinha, de escrever esse texto e de tentar fazer diferente todos os dias, ainda me pego presa, em subconsciente ou no patriarcado, às obrigações que claramente não deveriam ser apenas minhas.
Sara Oliveira é jornalista do O POVO, repórter especial de Cidades há 10 anos, com mais de 15 anos de experiência na editoria de Cotidiano/Cidades nos cargos de repórter e editora. Pós-graduada em assessoria de comunicação, estudante de Pedagogia e interessadíssima em temas relacionados a políticas públicas.
Aqui vão indicações de três livros para refletir sobre mulheres e trabalho.
Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o Brasil
No livro, você vai encontrar perfis de revolucionárias de etnias e regiões variadas, que viveram desde o século XVI até a atualidade, e conhecer os retratos de cada uma delas, feitos por artistas brasileiras. O que todas essas mulheres têm em comum? A força extraordinária para lutar por seus ideais e transformar o Brasil.
Autoras: Duda Porto de Souza e Aryane Cararo
Editora : Seguinte; 1ª edição (31 outubro 2017)
Capa comum : 208 páginas
Após seu TED Talk sobre vulnerabilidade, medo, vergonha e imperfeição viralizar, a autora apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas, toca em feridas delicadas e provoca grandes insights, desafiando-nos a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos.
Autora: Brenné Brown
Editora : Editora Sextante; 1ª edição (19 setembro 2016)
Capa comum : 208 páginas
Michelle Obama convida os leitores a conhecer seu mundo, recontando as experiências que a moldaram — da infância na região de South Side, em Chicago, e os seus anos como executiva tentando equilibrar as demandas da maternidade e do trabalho, ao período em que passou no endereço mais famoso do mundo. Com honestidade e uma inteligência aguçada, ela descreve seus triunfos e suas decepções, tanto públicas quanto privadas, e conta toda a sua história, conforme a viveu.
Autora: Michele Obama
Editora : Objetiva; 1ª edição (13 novembro 2018)
Capa comum : 464 páginas
Que tal responder à enquete abaixo e usar o campo dos comentários para discutir sobre trabalho? Como foi para você entrar no mercado de trabalho sendo mulher? Você viveu momentos de misoginia na sua carreira? As mulheres estão bem inseridas na sua área de trabalho? Vamos conversar nos comentários!

“Meu corpo existe além de mim”, um dia li essa frase e passei a entender que meu corpo vai muito além de ser um motivo de “olhares tortos”. Corpos com deficiência raramente são vistos como bonitos e possíveis, muitas vezes nos tornando invisíveis em nossa sociedade, seja de forma estética e acessível.
Já me anulei muito com comentários e piadinhas, já cheguei a me esconder com roupas por exemplo na praia, evitando assim julgamentos, mas não é justo. Daí acordo e vejo que pra nada existe um padrão e tento me mostrar com conforto, segurança e no meu limite e assim, com meu corpo, como paratleta de natação, vou longe nas minhas braçadas.
Através dele, nas piscinas da vida, conheço novos lugares e culturas, pessoas incríveis e inspiradores, um mundo muito mais além de um simples corpo. Em meu mundo paralímpico, sinto leveza em esbanjar meu corpo, somos de uma forma ou de outra iguais, onde uso de uma liberdade completa e audaciosa, pensando em grandes competições e vitórias, o que me traz uma felicidade genuína.
Grandes exemplos de vida encontrei em meu viver, no esporte e na política, como a Vice-governadora, Jade Romero, minha técnica Heloísa Stangier e o Vereador Júlio Brizzi, três grandes incentivadores do esporte paralímpico. Existem diferentes corpos, mas todos são lindos. Afinal, eles nos proporcionam as melhores experiências, é nele onde habito. “O corpo sente o que a mente acredita”.
Clara Carvalho é cearense, acadêmica do 3° semestre do curso de direito e atleta de natação paralímpica na categoria S7. Esporte esse que me proporciona várias oportunidades e vitórias, como participar do Camping Escolar 2019, ganhar medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa 2019, e fazer parte da semana de treinamento junto a seleção paralímpica brasileira.
A frase é parte da música “I’m Creep”, da banda Radiohead. A canção fala traz um eu lírico com baixa autoestima, em que repetidas vezes diz ser estranho demais para merecer a pessoa amada. Apesar de conhecer a música há algum tempo, as letras só me tocaram de fato quando Rocket Racoon (Bradley Cooper) surge em uma das primeiras cenas de “Guardiões da Galáxia Vol. 3” (2023) cantando-as de um modo tão pessoal que a dor do personagem chegava a ser palpável e eu entendi bem a razão dessa intensidade.
Para quem não conhece o personagem, Rocket é um guaxinim que foi submetido a diversos experimentos para adquirir um aspecto humanóide. Por isso, o super-herói dos quadrinhos da Marvel fala, anda sobre duas patas e tem uma inteligência considerada alta mesmo para um ser humano. O bizarro é que para torná-lo humano, o Alto Evolucionário constantemente o desumaniza. É nesse ponto que minha dor encontra um ponto em comum com um personagem de HQs personificado em CGI.
Mesmo sendo um animal (e em teoria não existindo na realidade), Rock traz vivências semelhantes as vividas por pessoas negras. Desde o momento em que ele é feito de cobaia até como isso influencia na sua relação com seu próprio corpo. Por isso, o trauma dele se encontrou com o meu na sala de cinema. Não porque fui submetida a experimentos contra a minha vontade, mas por ser uma pessoa preta que compartilha o histórico de ser desumanizada muito antes de nascer.
A dor de Rock era por simplesmente não ter a sua existência considerada válida. É uma dor que acompanha a população negra, principalmente mulheres. Além de sermos alvos constantes de violência verbal, física, somos hipersexualizadas. Não somos consideradas humanas e nem dignas de amor, como o eu-lírico de “I’m creep”, somos vistas como uma criatura estranha.
Eduarda Porfirio é fundadora e criadora de conteúdo do Quilombo Geek, atua como editora e produtora de conteúdo do portal. Também é repórter do Vida&Arte - O POVO.
Para se amar é necessária uma dose de rebeldia. É preciso bater o pé contra narrativas que historicamente tentam nos colocar contra nós mesmas, disseminando padrões inalcançáveis de beleza. A performance da feminilidade padronizada nesse contexto tende a nos convencer a direcionar nossa energia para fora, sobrando pouco ou quase nada para nossa jornada de autoconhecimento.
Como trancista, compreendo que a feitura de um cabelo exige uma criatividade que é motor para criação de um lugar seguro que nos distancia desses estigmas. Começa de forma imaginária, volátil e aos poucos, trança por trança, percebo que a rede estabelecida é concretizada como um refúgio das opressões cotidianas.
Para que eu possa me amar preciso primeiro entender quem sou e ser capaz de olhar para si com carinho vai muito além de apenas se sentir bonita. É sobretudo exercitar o autoamor e a independência, a estética vem depois. Preciso me desvincular do que esperam de mim para descobrir qual é a minha própria expectativa sobre o meu corpo.
Compreendo que é através da relação com o cabelo que consigo olhar para mim, para os que me antecedem e ainda explorar o novo. Descobri que me acho bonita quando conto minha história porque acredito que não há nada mais lindo que a coragem de ser quem sou. Logo, minhas decisões estéticas costumam estar alinhadas à minha ancestralidade, mas também à expectativa de futuro que tenho para mim e para meus semelhantes.
Isabelle Davis é a trancista fundadora do Estúdio Nzinga (2017) localizado em Fortaleza - CE. Trabalha com técnicas diversas do trancismo e também presta consultorias. Natural de Rondônia, a hairstylist faz do cultivo capilar ferramenta de lembrança e criação de rotas estético-imagéticas pertinentes principalmente à diáspora negra afro caribenha na Amazônia Ocidental.
Aqui vão três indicações de livros para refletir sobre corpo e mulheres:
O mito da beleza: Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres
Em O mito da beleza , a jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica conquistados a partir dos anos 1970.
Nomi Wolf confronta a indústria da beleza, tocando em assuntos difíceis, como distúrbios alimentares e mentais, desenvolvimento da indústria da cirurgia plástica e da pornografia.
Autora: Naomi Wolf
Editora : Rosa dos Tempos; 18ª edição (7 junho 2018)
Capa comum : 490 páginas
Nesta autobiografia escrita com sinceridade impressionante, a autora best-seller Roxane Gay fala sobre como, após sofrer um abuso sexual aos doze anos, passou a utilizar seu próprio corpo como um esconderijo contra os seus piores medos. Ao comer compulsivamente para afastar os olhares alheios, por anos Roxane guardou sua história apenas para si. Até conceber este livro.
Autora: Roxane Gay
Editora : Globo; 1ª edição (27 outubro 2017)
Capa comum : 272 páginas
Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação
As acadêmicas feministas desenvolveram um esquema interpretativo que lança bastante luz sobre duas questões históricas muito importantes: como explicar a execução de centenas de milhares de “bruxas” no começo da Era Moderna, e por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Segundo esse esquema, a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua própria função reprodutiva, e preparou o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor.
Autora: Silvia Federici
Editora : ELEFANTE EDITORA; 2ª edição (26 junho 2023)
Capa comum : 480 páginas