
Os versos do poeta russo Vladimir Maiakovski, um dos maiores nomes da literatura europeia no século XX, foram escolhidos pela ex-presidente Dilma Rousseff para encerrar o discurso que marcaria seu afastamento do Palácio do Planalto, em 2016.
Um processo controverso e que teve seu embrião cultivado desde 2013, quando protestos violentos tomaram o Brasil. Ataques mais diretos às figuras políticas, como escrachos públicos e adesivos de caráter misógino foram usados como forma de protesto. Dez anos depois o teor do discurso e algumas práticas foram incorporados à tática política.
Além das contestações ao processo eleitoral, acenos a regimes ditatoriais e conspirações de tomada de poder saíram da categoria de narrativas históricas ou de noticiários internacionais para fazer parte da rotina.
Mesmo com decisões judiciais questionáveis e morosidade de alguns processos institucionais, a normalidade democrática resistiu no Brasil. Dez anos depois da primeira contestação de um processo eleitoral e ao final de uma campanha ainda marcada pela polarização e discursos violentos, fica a questão: como o Brasil não acabou caindo em um regime de exceção?


A escritora infantojuvenil Ruth Rocha apresentou ao público uma série de histórias educativas que discutem temas importantes para o desenvolvimento das crianças. Uma delas, “O dono da bola”, contava a história de Caloca, um rapazinho que sempre que perdia o jogo, ou se irritava com a turma, acabava com a brincadeira e saía do campinho com a bola debaixo do braço. “Ou eu ganho, ou ninguém brinca”, protestava.
As ameaças à estabilidade democrática do Brasil começaram com um gesto parecido, em 30 de outubro de 2014. Nas primeiras horas daquela manhã, dezenas, senão centenas de jornalistas ao redor do País recebiam uma nota oficial de Aécio Neves e do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) anunciando que pediriam uma recontagem dos votos. Cinco dias antes, eles perderam a quarta eleição consecutiva.
Naquele ano, o processo eleitoral terminara com resultados muito apertados. Dilma Rousseff foi reeleita com 51,6% dos votos contra 48,4% de Aécio Neves, membro de um partido que governou o país entre 1995 e 2002, e que imediatamente se colocou em uma posição de ataque ao processo.
À epoca, tanto o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, quanto o procurador-geral eleitoral, Rodrigo Janot, evitaram comentar o caso. O processo correu dentro do tempo legal e nenhuma irregularidade foi encontrada.
Candidato à Presidência da República em 2014
Ministro do STF, presidiu o TSE nas eleições de 2014
A atitude, na visão de Fernando Limongi, professor de ciência política na Universidade de São Paulo (USP), representou um ponto de ruptura, uma vez que o questionamento era algo inédito no Brasil democrático.
“Foi um ato absurdamente irresponsável, com consequências, que mostrou a alteração da estratégia de uma parte do PSDB que resolveu radicalizar e não perdeu nenhuma oportunidade que a lei dá para contestar o resultado”, afirma.
Estava inaugurado um processo que se estenderia no País por toda a década seguinte. Entre 2010 e 2014, a proporção do eleitorado que desconfiava do sistema eleitoral aumentou em 25 pontos percentuais. Esse crescimento coincide com o período pós-eleições de 2014, sugerindo uma relação entre a contestação dos resultados e a intensificação da desconfiança.
Esse sentimento criado em 2014 e acentuado nos anos seguintes gerou uma crise de confiança nas instituições. E por que isso é importante? Para Eliane Ribeiro, doutora em Educação que pesquisa sociedade, juventude e democracia na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a confiança nas instituições consiste em um dos principais fatores na construção e consolidação de regimes democráticos.
“Altos níveis de desconfiança com as instituições políticas se tornam um problema para a estabilidade das sociedades democráticas, pois o sentimento de insatisfação cria o ambiente favorável para cidadãos se sentirem descompromissados com a vida pública, e também afeta a legitimidade dos governantes, o nível de participação política e o grau de coesão social”, explica.
Com uma série de crises institucionais inflamadas para desgastar o governo, associada a uma incapacidade política de gerenciar a crise, a fase final do projeto de Aécio Neves e do PSDB foi consumada em 2016, quando a crise econômica, decisões controversas do Ministério da Fazenda e a dissolução de alianças do Partido dos Trabalhadores levaram à deposição da presidente Dilma Rousseff.

O impeachment de Dilma, certamente foi influenciado pelas ações encabeçadas pelo PSDB, mas é importante ressaltar que toda a crise acontecia em paralelo ao desenrolar da Operação Lava Jato, da Polícia Federal.
O que começou como uma investigação policial de rotina, na avaliação de alguns pesquisadores, descambou em uma sucessão de equívocos e irregularidades que acelerou a deterioração do cenário político e o aumento na instabilidade, institucional e econômica.

Fernando Limongi pontua que um dos motivos pelos quais a derrocada de Dilma foi tão bem articulada foi o fato da então mandatária ter relutado em interferir nas operações policiais.
“Os políticos que chegavam para conversar com a Dilma e tentar acertar a crise procuravam uma forma de neutralizar a Lava Jato, mudando o ministro da Justiça. Mas ela nunca aceitou esse acordo”, diz.
“O processo de impeachment foi absurdo, com a autodestruição da classe política. E o resultado foi a emergência de Jair Bolsonaro”
"Um dos problemas com as ações da Lava Jato foi que eles interferiram de maneira virulenta nas empresas que mantinham contrato com a Petrobras"
A caminhada desgovernada da Lava Jato não fazia distinção entre políticos de esquerda, direita, centrão e, claro, empresários e executivos. A mira estava apontada para todos.
Para o advogado, economista e professor emérito da Universidade de Campinas (Unicamp), Luiz Gonzaga Belluzzo, um dos problemas com as ações dos agentes públicos vinculados a Operação Lava Jato foi a interferência, “de maneira virulenta”, nas empresas que mantinham contrato com a Petrobras.


A corrupção não nos causa apenas reprovação. Causa-nos repulsa. Por isso, algumas vezes tomamos partido da ideia de combatê-la da forma mais veemente possível, quase que numa cruzada moralizante. Apegados a este projeto, no entanto, perdemos a oportunidade de fazermos nossa autocrítica como sociedade, identificando os fatores que a propiciam e as melhores maneiras de evita-la no futuro.
As relações investigadas no âmbito da chamada Operação Lava a Jato são produto não de uma série de atos de corrupção isolados praticados no bojo das políticas desenvolvimentistas dos últimos anos, mas de um processo de captura dos investimentos estatais em infraestrutura com origem já no processo de industrialização do Brasil e consolidadas no período autoritário.
Trata-se, mais que de corrupção (embora disto também se trate), de um déficit de governança. Estas relações vieram a ser investigadas e punidas em um momento de exacerbação dos aparatos estatais de combate à corrupção, divididos de forma pouco organizada entre diversas instituições e, nos últimos anos, apoiados em recomendações internacionais transplantadas de forma incompleta e sob clamor popular.
Nesse contexto, a espiral punitiva desencadeada com a Lava a Jato envolveu as grandes construtoras brasileiras em inúmeros procedimentos de responsabilização, em distintas esferas, sem que o ordenamento contemplasse uma solução que permitisse sua reabilitação para seguir atuando em seus mercados de atuação.
Dada a importância destas empresas para a economia brasileira, a operação gerou uma enorme corrosão de valor no mercado nacional, contribuindo para a estagnação econômica do Brasil nos últimos anos e ceifando milhares de empregos. Tudo isto a pretexto de salvaguardar o interesse público.
*Virginia Mesquita Nasser é doutora em Direito Econômico pela USP
Assim, ao não adotar estratégias que visassem separar a punição de pessoas físicas das empresas as quais estavam vinculadas, a megaoperação teria atingindo especialmente o setor de infraestrutura. “Eles desorganizaram uma cadeia produtiva muito importante, talvez a mais importante, para a recuperação da economia, por seus efeitos sobre o emprego e a renda”, explica.
O livro “Lava a Jato: o interesse público entre o punitivismo e a desgovernança”, de 2019, baseado na tese de doutorado da advogada Maria Virginia Mesquita Nasser, mostra que o desmantelamento de negócios após a lava jato não teve a ver com restrições jurídicas, mas com aversão ao risco.
Nasser pontua que a tese da “economia do escândalo” explica a crise econômica brasileira pós-2014 a partir de seus efeitos sobre as empresas. Empresas envolvidas em escândalos perdem valor em bolsa, sofrem fuga de investidores, de crédito, cancelam projetos, precisam vender ativos e fazer demissões em massa.

A conclusão é simples: sem democracia, não há empresa; sem empresa, não há negócio, e sem negócio não há economia. Assim, recuperar a confiança nas instituições para evitar a completa erosão da democracia passa, invariavelmente, pelos entes privados.
Na última decada, empresas passaram a adotar mecanismos de governança, muitas vezes sob o guarda-chuva do ESG, para dar satisfação ao mercado e ao público de que está comprometido por boas práticas.
Eloy Rizzo Neto, mestre em Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional pela King's College, em Londres, e sócio da Demarest Advogados, avalia que, apesar das contradições, a Lava Jato foi uma alavanca para essa mudança.
“Antes, os programas de compliance no Brasil eram mais voltados às questões regulatórias, com foco na não violação de leis setoriais específicas. Não existia uma cultura de avaliação de riscos holística como há hoje”, diz.
Além do fator econômico, o lavajatismo também impactou na falta de confiança na política institucional, como aponta o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj) Fernando Fontainha. Na visão do pesquisador, os fatos que levaram ao julgamento e prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, “usurparam do eleitor brasileiro, legítimo julgador da política, de seu direito soberano de julgá-lo”.
A instabilidade social inaugurava um modo de fazer política no Brasil no limiar da legalidade, expondo o País a um risco iminente da ruptura democrática.

Com a prisão de Lula, Bolsonaro ascende e, ao longo do seu mandato, o ex-presidente fez uma série de acenos ao rompimento com a institucionalidade democrática e se cercou de personalidades simpáticas ao autoritarismo.
Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas em 2023 dá conta de que o ex-presidente atuou para desmontar a estrutura de participação social na definição de políticas públicas, atacou instituições democráticas e questionou, repetidamente, a eleição, promoveu a influência militar em órgãos do Estado, além de expressar ambivalência em relação aos valores democráticos fundamentais, defendendo abertamente o regime militar autoritário que vigorou entre 1964 e 1985.
Mas mesmo com os ataques em série, Bolsonaro não conseguiu implodir a institucionalidade democrática. Para Samuel Pessoa, professor assistente da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, as instituições no Brasil foram costuradas de maneira tão sólida que é muito difícil conseguir escapar do desenho que elas impõem.

O pesquisador também pontua que a complexidade e delicadeza do desenho institucional não ocorrem a custo zero. “Nossas instituições políticas demandam muito da qualidade da liderança. Dois presidentes eleitos com pouco apetite para a função – Dilma e Bolsonaro – geraram um vácuo ocupado pelo Congresso”, afirma.
Com isso, o Congresso passa a ter um papel mais forte e consegue, por muitas vezes, se impor diante do Executivo e controlar o rumo das discussões nacionais. Pessoa pontua que, com o papel da pandemia, dos escândalos de corrupção no interior do próprio governo Bolsonaro, e com os limites da estratégia populista – Bolsonaro teve que ceder e construir uma coalização com o Centrão, "o que limitou várias de suas investidas”.
Mas o Congresso, apesar de muito poderoso, também não pode agir sozinho. Para contrabalançar a força centrífuga do parlamento, a Constituição Federal de 1988 manteve diversos instrumentos da presidência da ditadura militar. E, para que o sistema com uma presidência muito forte não descambasse em tirania, criou os órgãos de controle que, por definição, são independentes e com uma larga frente de atuação.
Foi justamente a casa legislativa que aprovou, em 2021, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito (Lei 14.197), que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170, de 1983). A nova legislação inseriu na parte especial do Código Penal diversos tipos criminais voltados à defesa do “Estado Democrático de Direito”, similares aos incorporados pela legislação portuguesa e alemã, que optaram por fixar na legislação penal ordinária tipos penais voltados à defesa das instituições democráticas.
Além de um capítulo sobre
No livro “Por que a democracia brasileira não morreu”, os cientistas políticos pernambucanos Marcus André Melo e Carlos Pereira também tecem uma explicação detalhada sobre o que torna a democracia brasileira tão resiliente.
“Nosso sistema político altamente consociativo, isto é, com inúmeros pontos de vetos, o que dificulta muito qualquer aventura autoritária”, pontua Melo. O pesquisador prossegue, explicando que no caso de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal (STF) “desempenhou papel importantíssimo”, mas também o Legislativo defendeu a democracia porque Bolsonaro não conseguiu aprovar nenhuma legislação que enfraquecesse o STF.

Em 7 de setembro de 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro mandou um recado ao então presidente do STF, ministro Luiz Fux: “Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ministro, ou esse Poder pode sofrer aquilo que não queremos... Quem age fora da Constituição se enquadra ou pede para sair”, disse referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, que já presidia diversos inquéritos voltados a apurar condutas criminosas do presidente e apoiadores.
A incitação aos militares contra o STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) escalou em 2022, ano da eleição presidencial. O processo de desqualificação das urnas eletrônicas foi potencializado pela manifestação de militares na comissão formada pelo Tribunal Superior Eleitoral para avaliar a integridade das urnas eletrônicas.
O resultado foi uma ação coordenada para sabotar o processo eleitoral, que resultou em uma proposta do presidente de realização de uma apuração paralela, a ser feita pelos militares, das eleições de 2022, em uma clara violação à competência exclusiva atribuída à Justiça Eleitoral na condução do processo eleitoral.
Em 8 de agosto de 2022, o ministro Edson Fachin deu um basta às tentativas de conturbar o processo eleitoral, ao declarar que os questionamentos feitos pelos militares pró-Bolsonaro eram infundados e haviam sido protocolados fora do tempo hábil.

Oscar Vilhena Vieira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, pontua que foi robusta a resposta do Supremo Tribunal Federal às investidas do governo Bolsonaro contra direitos fundamentais e políticas públicas de origem constitucional.
“Se a visão mais ortodoxa fosse definitiva, não haveria escapatória ao 8 de janeiro de 2023. Mas, a resposta institucional brasileira vai na contramão e quando a vida da democracia estiver em jogo, ela dispõe de vigorosas defesas”, afirma.

Para o pesquisador, países que passaram pelo processo de uma nova Constituição após uma experiência autoritária, especialmente aqueles que o tiveram nas últimas décadas do século XX, se valeram de mecanismos que vão além do sistema de freios e contrapesos.
“Essa arquitetura constitucional defensiva também passou a incentivar a adoção de um novo tipo de legislação penal, voltada a punir atos contrários às instituições democráticas e ao Estado de direito”, explica.
Foi com base nesse conjunto de mecanismos e regulamentações que os participantes do atentado aos Três Poderes em 6 de janeiro de 2023 tiveram suas acusações formuladas e sentenças proferidas.

Há ainda mais elementos que merecem destaque no rol de escudos do sistema democrático no Brasil: o poder econômico, a imprensa e as forças armadas.
Em relação aos militares, segundo informações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR), a cisão entre a cúpula militar foi decisiva para barrar as ações antidemocráticas no dia 8 de janeiro.
A PGR descobriu que "ataques pessoais a militares indecisos sobre a adesão ao plano de golpe de Estado" foram coordenados pelo alto escalão golpista. Samuel Pessoa, pesquisador da FGV, desenha um cenário análogo e diz que “em qualquer democracia, se os militares que detém as armas quiserem dar um golpe, o golpe ocorrerá”.

E assim como entes privados podem ser abalados pela crise de confiabilidade, eles podem ter um papel importante na superação das contradições. Um levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) feito em 2023, apontou que o número de ataques a veículos e jornalistas mais do que quadruplicou entre 2018 e 2022 passando de 130 para 557.
“A mistura perversa de negacionismo com doses de desinformação transformou a imprensa em inimigo número um do poder. Atacar o mensageiro por não gostar da mensagem se tornou regra”, afirma a jornalista Cristina Zahar, secretária executiva da Abraji
A advogada e coordenadora do Programa de Proteção Legal para Jornalistas, Leticia Klein, reitera o papel da imprensa na garantia da democracia. “Como fazer a sociedade compreender que sem liberdade de imprensa não há democracia? Não à toa, a primeira coisa que governos autocratas ao redor do mundo fazem é atacar a imprensa com o intuito de assumir o protagonismo da narrativa”, destaca.
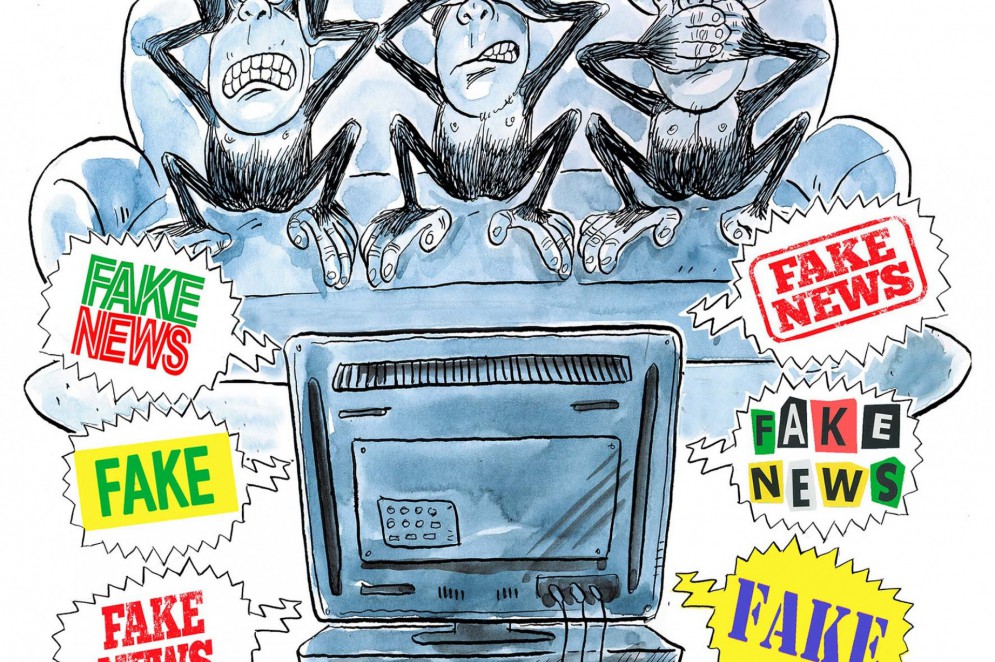
Enquanto a imprensa cumpria seu papel, outros entes privados e ligados à sustentação econômica do País começaram a se movimentar. Como explicamos antes, a confiabilidade institucional é vital para manter a economia girando, e entendendo o risco de uma ruptura, dezenas de grupos empresariais passaram a se posicionar em defesa da normalidade democrática.
"A primeira coisa que governos autocratas ao redor do mundo fazem é atacar a imprensa com o intuito de assumir o protagonismo da narrativa"
Destaca-se, nesse cenário, as assinaturas na “Carta em defesa da Democracia e do sistema eleitoral”, elaborada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Entre as adesões, destacam-se os nomes de políticos, magistrados, artistas e também de acionistas de grandes empresas, milionários do mercado financeiro, banqueiros e donos de indústrias.
Blairo Maggi, do Grupo Amaggi, um dos maiores produtores de soja do Brasil, Eduardo Vassimon, da Votorantim, Horácio Lafer Piva, da exportadora de papel Klabin, Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco e Fabio Barbosa, presidente da Natura&Co, foram alguns dos empresários que assinaram o manifesto.

"Questionar o sistema eleitoral abre uma brecha perigosa para que se criem bagunça e tumultos. Por isso foi importante fazer um contraponto por meio da carta pela democracia", disse Barbosa.
Representantes do agronegócio, do setor financeiro, de empresas, da sociedade civil e acadêmicos divulgaram outra carta em favor da democracia e do sistema eleitoral brasileiro com mais 300 representantes destes grupos, reunidos pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.
"O objetivo é contribuir com uma defesa apartidária do processo eleitoral do Brasil, que desde a redemocratização do país tem mostrado uma inabalável segurança na apuração da vontade popular expressa pelo voto", dizia o texto.
"E ressaltamos que o processo eleitoral é inquestionável e imprescindível para toda e qualquer discussão que vise à prosperidade do país. Sem democracia não há desenvolvimento econômico”

Décio Lima, presidente do Sebrae, afirma que empresas bem-sucedidas são aquelas que trazem segurança para a sua clientela, que respeitam acordo, contratos e normas e, em última análise, o cidadão.
"As empresas precisam de segurança jurídica, que somente por meio do regime democrático é possível garantir a previsão jurídica indispensável para o funcionamento transparente e previsível das instituições tidas como fortes e respeitadas", disse.
Décio afirma ainda que diante de situações de ameaça ao regime democrático, como em 2014 ou como no dia 8 de janeiro de 2023, a imagem que se coloca está associada à desconfiança, à falta de regulamentação, à desconstrução de um país que precisa ter seus pilares básicos consolidados em segurar e suportar qualquer tipo de abalo.
"As empresas são instituições e sabem que ameaçar a democracia representa um dos fatores que compromete o desempenho competitivo, levando à vulnerabilidade em relação a clientes e fornecedores, à estrutura simples e à fraqueza de recursos", acrescentou presidente do Sebrae. "Por isso, defender a democracia é defender um país forte com instituições saudáveis e admiradas pela população", finalizou.
Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos de Empresas Responsabilidade Social, concorda e aponta que manifestações antidemocráticas não deveriam ser minimizadas pelos protagonistas da economia do Brasil.
"É inadmissível que empresários que viveram períodos terríveis da democracia brasileira, de coação à imprensa e supressão dos direitos individuais, não se manifestem em relação a ações e governos que demonstrem intolerância e desapreço pela democracia”, disse.
Hoje, ao fim de um processo eleitoral que parece acenar a normalidade, fica nítido que quando atuam juntos, Estado e empresas podem fortalecer a democracia. Quando a cultura no ambiente de trabalho promove transparência, diversidade e engajamento cívico, além de adotar políticas anticorrupção e práticas sustentáveis, há uma conscientização coletiva que reforça o respeito à pluralidade e à liberdade de expressão.
O caminho está posto, o desafio para o futuro é consolidar uma sociedade mais equitativa e participativa, onde a responsabilidade social e o desenvolvimento econômico caminham juntos em benefício do bem comum.

>>Ponto de Vista
Por Oscar Vilhena Vieira*
A experiência de defesa da democracia constitucional brasileira durante o governo Bolsonaro pode ser considerada exitosa, uma vez que o regime democrático sobreviveu às ameaças e ataques perpetrados por um presidente da República hostil a sua ordem constitucional. A natureza acentuadamente consensual do modelo constitucional adotado em 1988 dificulta a ação de lideranças que não sejam capazes de angariar apoio de uma sólida coalizão parlamentar, bem como superar o poder que as instâncias jurídicas possuem de invalidar ações e políticas que confrontem as regras básicas da Constituição.
O Congresso Nacional, ainda que majoritariamente conservador, teve um papel essencial ao bloquear alterações no sistema constitucional ou legal que favorecessem uma rápida deterioração das estruturas democráticas no primeiro mandato de Jair Bolsonaro, que foi um presidente impotente vis-à-vis o Poder Legislativo. Não conseguiu impor sua agenda e teve mais vetos derrubados que qualquer um dos seus antecessores. O Senado Federal teve um comportamento mais conflitivo com o presidente da República, que culminou com a instauração da CPI do Covid-19, embora isso apenas tenha acontecido após determinação do Supremo Tribunal Federal.
O Congresso Nacional deu, por fim, uma contribuição fundamental ao sistema de proteção da democracia brasileira, ao aprovar Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, conferindo ao sistema de justiça bases mais claras para a responsabilização daqueles que atentem contra as instituições democráticas. Apesar de alguns vetos presidenciais, a lei passou a ser imediatamente empregada pelo Supremo Tribunal Federal nos diversos inquéritos voltados a investigar atos antidemocráticos.

A sociedade civil, em clara aliança com a chamada mídia tradicional, também desempenhou um importante papel na defesa da democracia. A aproximação de importantes representações empresariais, como a Fiesp e a Febraban, com centrais sindicais, movimentos sociais e organizações da sociedade civil, indicou a existência de uma rede inusitada de sustentação das instituições e dos processos constitucionais, notadamente o Supremo Tribunal Federal e o sistema de urnas eletrônicas.
É relevante destacar que, apesar da ação insidiosa do presidente e de seus apoiadores, incitando sistematicamente a intervenção militar, prevaleceu a autocontenção no comando das Forças Armadas, que se negou a embarcar na aventura autoritária, ainda que vozes da caserna, muitas delas acomodadas ao lado de Bolsonaro, tenham se deixado seduzir pelas propostas autoritárias do presidente da República.
"A sobrevivência da democracia não pode, no entanto, ficar dependente desse sistema de proteção institucional, por mais robusto que ele seja"
Nesse contexto desafiador, o Supremo Tribunal Federal ocupou uma posição central tanto na contenção dos ataques ao arcabouço de direitos fundamentais, ao abuso de poder, à tentativa de captura de órgãos de Estado, à irracionalidade e ao obscurantismo na condução da pandemia, como na defesa, propriamente dita, da institucionalidade democrática. A defesa da democracia brasileira exigiu uma postura militante das instituições constitucionais e da própria sociedade civil, conferindo efetividade às diversas ferramentas de nossa democracia defensiva.
A sobrevivência da democracia não pode, no entanto, ficar dependente desse sistema de proteção institucional, por mais robusto que ele seja. As ferramentas da “democracia defensiva”, assim como a “postura militante” daqueles que ocupam as instituições de defesa da democracia, podem contribuir para conter ciclos conjunturais de autoritarismo populista, mas jamais poderão substituir o sistema político propriamente dito, na função de coordenar conflitos políticos e promover soluções para o atendimento das expectativas de bem-estar dos cidadãos em uma sociedade plenamente democrática.
No momento em que a democracia brasileira começa a retornar à normalidade, que as ameaças não mais partem do cerne do poder ou mesmo das Forças Armadas, é fundamental que a postura militante empunhada pelo Supremo Tribunal Federal, durante o governo Bolsonaro, também de contraia, pois, como lembra o ministro Fachin, ao definir os contornos da democracia militante brasileira, “é preciso precatar-se para que a dose do remédio não o torne um veneno”.
*Oscar Vilhena Vieira é professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas
Série de reportagens mostra como, na última década, avançaram tramas golpistas e antidemocráticas no Brasil e a resistência a esses movimentos por parte da sociedade e das instituições