
Desde cedo, a menina era chamada de perguntadeira. De tudo queria saber. Um dia, ela ainda criança no Ceará, onde nasceu, foi avisada por sua mãe e avó que deixariam Fortaleza e iriam morar bem longe. E se foram, com a vida na mala, para o Rio de janeiro. Aquela decisão era de libertação das duas mulheres, que naqueles tempos, sofriam violência doméstica.
O entendimento completo de Kátia Brasil sobre o que de fato havia acontecido em casa só veio muito depois. Foi quando ela se inteirou de causas e questões sociais como o feminismo, a bandeira das minorias, do ativismo ambiental, os crimes políticos e econômicos, os ilícitos das ruas, das fronteiras ou mesmo da dimensão do tráfico de drogas, em denúncias e investigações que passou a lidar como jornalista a partir de 1986.
As respostas estavam ali, na floresta do meio do mundo, a terra dos vários povos. Kátia está radicada na Amazônia desde 1990, é uma das profissionais mais respeitadas na cobertura da região. Um dia quis ser cineasta, mas foi o jornalismo que a levou a documentar a floresta, os povos indígenas, aprender sobre as etnias e seus costumes e direitos. Hoje conhece e é reconhecida por vários povos amazônicos.

O garimpo ilegal e a devastação da mata sempre foram tema de suas pautas. Ela cobriu o massacre dos yanomami, em 1993, e a morte da missionária americana Dorothy Stang, em 2005. Viu o ativista Chico Mendes na plateia de uma peça de teatro em que trabalhava como produtora, poucos dias antes de ele ser morto, em 1988. Lia os textos de Zuenir Ventura sobre o caso à época, por quem se inspirava como jornalista.
As execuções de Dom e Bruno, que completam um ano dia 5 de junho, segundo ela, aconteceram numa "região sem lei", o Vale do Javari, onde o mercado da pesca ilegal é envolvido com o narcotráfico. Ela própria já precisou mudar de cidade, em 1993, por ameaças de morte, na investigação jornalística que fez após um advogado ser assassinado a mando de um desembargador.
Depois de 22 anos como correspondente de grandes jornais do País, criou, ao lado da jornalista Elaíze Farias, a agência de notícias Amazônia Real. O projeto independente reverbera a voz de comunidades fora da mídia tradicional. Completa dez anos em outubro próximo. A proposta é de "fazer jornalismo ético e investigativo, pautado nas questões da Amazônia e de seu povo".

Kátia afirma que o "ouro do sangue yanomami", a extração criminosa do minério no território indígena, "pode estar no seu celular, porque as peças de celulares também precisam de ouro. Tá na área tecnológica, na indústria. Tá tudo contaminado". Nesta entrevista, ela fala da Amazônia já de descasos que conheceu no passado; da atual, de pandemia e genocídio; e dos cenários que imagina para o futuro dos povos da região. "Eles (indígenas) não caem por qualquer coisa. Apesar de tudo que já aconteceu, mais de 500 anos de colonização, eles conseguiram sobreviver, mas é preciso ter investimentos".
Leia também | Quem ou o quê invisibilizou a crise Yanomami?
Kátia Brasil - Raiz cearense de mulheres fortes, nordestinas, negras. A minha família surge na região entre Missão Velha e Crato. A minha vó conta que veio dessa região. Ela ficou viúva aos 27 anos de idade. E ela foi para Fortaleza para criar os filhos, sobreviver. Ela começou vendendo tapioca numa banca. Com esse dinheiro ela conseguiu alugar uma casa e começou a criar os filhos. Quando eu nasci, em 1961, a minha vó já tinha um restaurante ali na avenida Duque de Caxias, bem na frente do edifício Fortaleza. Era uma casa bem grande. E tinha uma parte que também era pensão, recebia pessoas do Interior. A minha mãe, muito nova, era cozinheira desse restaurante. Minha mãe cozinhava, segundo relatos dos meus primos, refeição para 400 pessoas por dia. Era uma coisa grande. Minha vó era comerciante nata, uma mulher que não sabia ler nem escrever, mas sabia fazer uma conta de matemática como ninguém.
OP - Essa é sua memória?
Kátia - Memória afetiva. Minha memória dessa casa, grande, muitas plantas, quintal. Minha vó indo ao mercado todo dia. Eu lembro, devia ter uns quatro, cinco anos, e ela me levava. Eu sempre fui a mais apegada com a minha vó. Queria participar de tudo da vida dela. Era a pessoa que me encantava muito, até hoje me encanta. Morreu com 93 anos. Sempre falo isso, que todas as memórias que tenho sempre vêm a partir dela. Minha vó deu boa educação para minhas tias. Elas estudaram no (colégio) Farias Brito, meus primos também. Isso tudo porque ela contava, eu ouvia e guardava. Eu era uma neta que sempre perguntava demais. Ela me chamava de perguntadeira, coloco isso na minha biografia. Eu às vezes apanhava da minha mãe porque fazia perguntas indiscretas, quando via algum assunto que me interessava. Estudei num colégio que funcionava no Parque das Crianças, tinha uma escola lá.
Minha irmã mais velha também. Depois estudei numa escola que ficava atrás do Theatro José de Alencar. Era classe média, que tive oportunidade de estudar em escolas particulares. Até a minha vó mudar para o Rio de Janeiro. Aí houve uma cisão. Minha vó ficou desgostosa com algumas coisas da família que aconteceram. E também eu não tinha essa memória, hoje eu tenho: quando começo a desenvolver atividades com o feminismo, passo a entender o que aconteceu com minha família. Na verdade, minha vó foi uma pessoa que sofreu violência doméstica do filho. De um dos filhos mais velhos. Ele bebia muito, fazia escândalos na rua. Acho que isso fez com que ela fizesse essa mudança de Fortaleza para o Rio de Janeiro. E minha mãe se separou do meu pai quando a gente era muito criança. Nós fomos morar com minha vó. Somos quatro irmãos. Minha mãe também sofreu violência doméstica. Meu pai também era alcoólatra. Na época que minha mãe se separou, não era permitido nem que mulheres usassem calças jeans. Era proibido. Esse meu tio implicava com ela, meus outros tios também. Ela vivia numa submissão muito grande. Eu só fui ter essa consciência depois de anos e anos, quando fui entender tudo aquilo que essas duas mulheres passaram.
OP - Como veio o entendimento disso tudo?
Kátia - O entendimento disso tudo aí começou na minha introdução com o feminismo, a partir de 2016, 2017. Conversando, tendo reuniões e trabalhando essa questão da violência doméstica. Eu sabia que tinha alguma coisa. Fui entender ouvindo outras histórias de outras mulheres, que aquilo havia sido por violência doméstica. Porque ninguém falava o que era. Na verdade era uma vida de opressão. E elas sempre foram mulheres que trabalharam muito, pelos filhos, para darem o melhor para os filhos. Minha vó era comerciante nata, todos os feirantes do mercado conheciam ela. Essas são as memórias afetivas que eu tenho, e também tem esse lado da violência, da opressão. E elas eram mulheres que lutavam contra isso. Se eles tivessem baixado a cabeça não teriam criado os filhos delas. Se tivessem desistido da vida, talvez não tivessem conseguido criar seus filhos. Aí, no final dos anos, minha vó se mudou para o Rio de Janeiro. Vendeu tudo que tinha e foi morar lá. E fomos todos. Eu fui estudar em escola pública no Rio. Perdi três anos de estudo porque a escola no Ceará ainda não tinha o mesmo ritmo do Rio. Isso foi uma coisa que marcou muito, a gente andou pra trás. Foi terrível pra mim, que sempre fui uma aluna muito estudiosa, sempre tirava nota boa. Isso foi uma coisa muito difícil. Mas a gente conseguiu superar.
Do Ceará também, das imagens que tenho, dois lugares que a gente ia muito. A praia do Morro Branco, onde eu sempre ia passar férias. E Maranguape, onde foi morar minha tia mais velha, Socorro. Ela teve 14 filhos, era casada com um militar do Exército. A gente passava férias, ia para o (clube) Cascatinha. Lembro dessas vivências, com a natureza. E papai levava sempre a gente para o cinema. Levava os primos. Ele tinha uma Rural, entrava todo mundo no carro pra ir ao cinema. Quando fiz o vestibular, fiz pra Cinema na UFF (Universidade Federal Fluminense), e não passei. Fui reprovada duas vezes para o vestibular, até que fiz Jornalismo para uma faculdade particular e passei.

OP - E como apareceu o Jornalismo?
Kátia - Pela desistência do cinema, porque não conseguia passar. E quando fiz o vestibular para Jornalismo, gostava muito do Jornal do Brasil. O Zuenir Ventura era dos jornalistas que eu mais lia, achava fantástico, até hoje é maravilhoso. Ele cobriu a morte do Chico Mendes, tinha muitos relatos sobre a questão dos indígenas e da floresta no trabalho dele. Acabei fazendo jornalismo. E hoje faço documentários (risos).
OP - Chico Mendes morre mais ou menos quando você está começando.
Kátia - É. Foi muito interessante essa questão do Chico Mendes (ambientalista, seringueiro, sindicalista) porque, antes de ele ser assassinado, entrei no grupo de teatro na faculdade. Fui estudar tragédia grega com o grupo chamado Mergulho no Trágico, de alunos da faculdade e artistas. Eu me dediquei mais à parte de produção. E fui chamada a fazer a produção de uma peça sobre conflito agrário, com a atriz Marcélia Cartaxo. Essa peça foi apresentada ao Chico Mendes quando ele foi homenageado no Paço Imperial, em 1988 (dia 22 de dezembro, em Xapuri-AC). Eu vi o Chico Mendes de perto, não tive nenhum contato com ele, era uma autoridade que estava sendo homenageada. Mas a peça foi apresentada a ele e logo depois, em dezembro daquele ano, ele foi assassinado e todos nós ficamos muito chocados com esse acontecimento. E as notícias que saíam no Jornal do Brasil eram todas assinadas pelo Zuenir Ventura.

OP - Ainda naquele começo de carreira, você precisou mudar de Boa Vista para Manaus por conta de ameaça de morte. Pode contar um pouco desse caso?
Kátia - Eu fui para Roraima em 1990. Eu trabalhava numa rádio no Rio, especializada em Carnaval. E uma colega me procurou dizendo que iriam abrir um jornal lá em Roraima, que ela tinha uma amiga que morava lá, e eles precisavam de repórteres. Eu e uma colega fizemos a seleção, acabei passando. Em março de 1990, justamente no dia que o (ex-presidente da República) Fernando Collor confiscou as poupanças, eu iria viajar. Viajei no dia seguinte porque houve esse problema. Minha vó e minha mãe me incentivaram. Uma coisa que marcou muito minha vida, elas diziam “seja independente e faça tudo pra você ser feliz”. Elas nunca falaram “case, tenha um bom casamento”. Elas sempre disseram “estude e seja independente”. E quando eu disse pra elas que iria mudar do Rio de Janeiro, o Rio naquela época, para jornalismo, estava super difícil. Era muito difícil conseguir uma vaga num jornal, havia uma crise econômica muito grande. E para recém-formado era mais difícil ainda. E eu como uma menina negra, humilde, era mais difícil. Não conhecia ninguém que pudesse me indicar, dar uma vaga. Mas eu trabalhei em alguns veículos no Rio, surgiu essa oportunidade e eu fui.
Quando cheguei lá em Roraima, em março de 1990, o jornal, na verdade, era pra fazer uma campanha eleitoral do senador Romero Jucá, que já havia saído da presidência da Funai por roubo de madeira. E fui chegar naquele ambiente. Lembro que a maioria eram homens. Existiam três mulheres, eu e duas digitadoras. Os computadores naquela época eram dinossauros, tinham que digitar os textos dos jornalistas naquele computador para poder imprimir e depois ir para diagramação. A coisa ainda era bem rústica. Trabalhávamos com máquina de escrever.
OP - Você era a única mulher jornalista?
Kátia - A única. E que lidava com toda a parte de produção. Teve uma turma que foi contratada de Brasília, para dar o suporte na campanha, e outros jornalistas que faziam o jornal. Eu estava nesse grupo do jornal. Só que como era um jornal que atuava para a campanha eleitoral, todo dia denunciava alguma coisa do candidato adversário do Romero Jucá, que era o governador Ottomar Pinto (já falecido), brigadeiro da Aeronáutica. Inclusive ele era acusado de ser informante do SNI (extinto Serviço Nacional de Informações) na ditadura militar. Era um cara bem linha dura, agressivo. Eles se confrontavam muito, tinha muita confusão no jornal por causa disso. Por outro lado, o jornal começou a não pagar nossos salários, a reter nossas carteiras de trabalho, a reter nossa passagem aérea. Ficamos meses sem receber, era um caos. No final de 1990, conseguimos reaver nossas carteiras. Eu entrei com uma ação judicial contra esse jornal, reivindicando todos os meus salários atrasados, hora extra.
E nesse jornal eu conheci um jornalista que era correspondente d'O Estado de S.Paulo, Plínio Vicente. E comecei a me encantar com o que ele fazia, e disse a ele que queria aprender a ser correspondente. Aí surgiu um freelance para o jornal O Globo, para cobrir a ida do presidente Lula a Boa Vista. Ele tinha sido derrotado nas eleições para Fernando Collor, mas ele estava viajando pelos estados, visitando as bases, encontrando sindicalistas, os núcleos do PT. Ele esteve lá, eu fiz essa cobertura, tenho inclusive essa foto. E fiz a primeira matéria como freelancer. Pra eu transferir essa matéria para o jornal, tive que ir para os Correios, para digitar num telex, uma máquina imensa que eu não sabia utilizar. O funcionário dos Correios foi me ensinando, fui aprendendo. E assim virei correspondente. Quando eu voltei para o Rio, no final de 1990, na virada do ano, passando férias com minha família, o Plínio me ligou. “Vou ser editor-chefe do jornal A Gazeta de Roraima, que tem uma linha editorial mais aberta”. Era o contrário. No jornal O Estado de Roraima, onde trabalhei, que era do Romero Jucá, ninguém podia escrever nada sobre indígena, nada sobre meio ambiente, nada sobre mineração.
Eu não tinha contato com nenhuma etnia, nada, porque o jornal não dava nada sobre isso. Também barrou meu sonho de conhecer os povos indígenas, a floresta. Por mais que eu quisesse, o jornal não absorvia esses temas. Por causa da linha editorial, que depois fomos vendo quem era a figura do Romero Jucá. Uma pessoa que tem altos e baixos em relação à política e às questões ambientais e aos povos tradicionais. E quando vou para a Gazeta de Roraima, o Plínio me contrata como repórter especial. Começo a fazer uma série de matérias sobre conflitos, demarcações. Passo a visitar a terra indígena yanomami por diversas vezes, acompanhando a retirada de garimpeiros, acompanhando o pessoal da Funai. Ganhamos o primeiro Prêmio Esso e único de Roraima até hoje (em 1991), que foi uma reportagem sobre o conflito de garimpeiros com a Guarda Nacional Venezuelana. Ali foram duas questões. Primeiro, a violação de direitos humanos, mas também houve a invasão do território brasileiro pelos venezuelanos. Isso acabou provocando uma demarcação dos limites fronteiriços entre os dois países. Foi uma reportagem de muita repercussão.
OP - E a ameaça foi por qual motivo?
Kátia - Essa ameaça foi em 1993. Fiquei dois anos trabalhando na Gazeta e fui trabalhar na TV Educativa em 1992. Fui contratada, mas continuava com a correspondência do O Globo, não larguei mais. O jornal não tinha nenhuma dificuldade por eu trabalhar em tevê. Inclusive passei em Brasília, falei com o chefe da sucursal à época, Ascânio Seleme, e disse que queria ser correspondente do O Globo em Roraima. Passei pra dizer que queria ser fixa. Eu era destemida (risos). E continuei como correspondente. Em 1993, foi assassinado um conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Paulo Coelho Pereira. Fui uma das primeiras pessoas que chegaram na cena do crime. Era Carnaval, inclusive o Paulo iria desfilar numa escola de samba, a gente estava cobrindo o Carnaval nesse dia. E ele, mais cedo, tinha feito um discurso na OAB. Ele denunciou que havia irregularidades na nomeação do desembargador (Luiz Gonzaga Batista Rodrigues, já falecido). E que também havia atos de corrupção envolvendo o desembargador e o governador. E ele (Paulo) foi assassinado com vários tiros, na frente dos filhos, quando estava chegando em casa. Esse crime teve uma repercussão imensa.
Cobri tanto pelo O Globo como pela TV Educativa. Numa das idas para a Secretaria da Segurança Pública, prenderam dois policiais, disseram que eles eram os autores do crime. Um desses acusados me chamou para conversar e eu fui à cela. Lá eles disseram "nós não somos os culpados, não temos nada a ver com esse crime. É melhor você investigar direito. Não somos os responsáveis”. Aí comecei a investigar. Comecei a ter apoio de algumas fontes da própria Polícia. E foi justamente o que levou ao mandante do crime, que era o desembargador Luiz Gonzaga e os filhos. Um era diretor da Polícia e o outro era policial civil. Essa investigação durou meses e meses. Eu ia ao Tribunal para tentar falar com eles. O Conselho da OAB fez uma grande manifestação na praça de Roraima, para pedir a federalização desse caso.
A investigação foi federalizada. E numa das tentativas de falar com o desembargador, ele disse que era pra eu parar de encher o saco dele, não queria mais falar comigo, e que a minha boca iria amanhecer cheia de formiga se eu continuasse com isso. Eu avisei à Polícia Federal que tinha acontecido isso comigo. A minha casa ficou uma semana sob vigília. Morava num prédio pequeno, sozinha, era solteira. E não avisei à minha família. Não contei nada pra ninguém no Rio. Teve um jornalista do Estado de S.Paulo que chegou a ir a Roraima nessa época porque havia uma lista de pessoas ameaçadas de morte. Ele fez entrevista com várias pessoas, houve uma foto com pessoas ameaçadas. E eu era uma dessas pessoas e disse a ele que não iria dar entrevista, que não queria foto, que não iria dar nenhuma declaração. Porque tenho certeza que se minha família soubesse disso, iria querer me tirar de Roraima e eu não queria sair. Queria continuar, acompanhar a situação dos povos indígenas.

OP - Você reavaliou até o ponto em que precisaria realmente mudar de cidade?
Kátia - O que acontecia? Se isso viesse a público, logicamente que minha família iria ficar extremamente impactada e me querer tirar de lá. E eu não queria sair. Mas eu comecei a ficar desgostosa com a TV Educativa. Em agosto de 1993 houve a notícia do massacre dos yanomamis. Eles foram assassinados entre junho e julho e a história começou a repercutir em agosto. Eu estava de férias, estava em Manaus quando aconteceu o massacre. Eu fui a Manaus justamente para conhecer o ambiente, fazer contatos. Eu já estava tentando me deslocar de Boa Vista para Manaus por causa da segurança. Aí minha chefe no O Globo, Mirian Guaraciaba, disse que iria mandar dois repórteres da sucursal de Brasília, mas que eu precisava trabalhar porque conhecia todo mundo, e que se eu pudesse voltar seria melhor. Quando eu voltei, me apresentei na TV Educativa e falei pro meu chefe na época, voltei pra poder cobrir o massacre e se vocês quiserem que eu participe da cobertura já estou aqui. Ele falou “pode continuar de férias, que você é uma jornalista muito indigenista, não queremos que você trabalhe, fique de férias”. Eu falei tá bom, mas aquilo me deixou super mal. Mas eu não era jornalista indigenista. Indigenistas são os funcionários da Funai, que são os defensores, trabalham para os índios.
Eu era uma jornalista investigativa, mas defensora dessa causa, sim. Já conhecia os líderes yanomamis, acompanhei toda a demarcação, e eu conseguia falar com todo mundo, fazendeiro, garimpeiro, bispo, as ONGs. Eu nunca tive dificuldade de falar com ninguém, sempre as pessoas me receberam. E isso acabou me deixando bem decepcionada, fiquei desgostosa com a emissora. Acabei pedindo demissão. E em outubro de 1993 me mudei para Manaus, fui trabalhar no jornal Amazonas em Tempo. Pedi um emprego à dona do jornal, Hermengarda Junqueira, contei a situação toda que estava enfrentando. Que tinha as ameaças, que não podia continuar mais lá, e consegui uma vaga de editora de economia. E fui me deparar com outros problemas (risos).
LEIA MAIS SOBRE A AMAZÔNIA https://mais.opovo.com.br/reportagens-especiais/leituras/2022/08/31/amazonia-tem-8-mil-anos-de-presenca-humana-afirma-arqueologo-eduardo-neves.html.
OP - Após três décadas e meia na região, o que mudou da Amazônia de quando você começou para essa de hoje?
Kátia - A primeira coisa que mudou de fato em relação a toda a região amazônica é que os próprios povos indígenas estão buscando suas próprias narrativas. Eles estão falando por eles mesmos. Esse protagonismo dos povos indígenas na cena histórica do Brasil é muito importante.

OP - A voz indígena não está mais sendo intermediada?
Kátia - Não tem mais intermediários, exatamente. E principalmente os jovens, eles estão muito conscientes disso. Estão estudando comunicação, jornalismo. Essa área entrou na vida deles e é um caminho sem volta. Isso é o que me deixa mais feliz. Quando se olha 30 anos atrás, em que não se via nenhuma citação, nenhuma frase, nenhuma entrevista exclusiva com alguma liderança indígena, e hoje se vê produção de livros, entraram na academia, estão buscando seus direitos, estudando direito, medicina, antropologia, isso é a coisa mais fantástica que se tem na Amazônia atual. Mas continua o retrocesso, a ausência do estado de direito, continuam as violações, as impunidades dos crimes absurdos que acontecem na região.
Infelizmente, houve um retrocesso muito grande nos últimos quatro anos, do governo Jair Bolsonaro. Já existia uma pressão muito grande porque eles estão nos territórios onde existem realmente jazidas de minérios valiosos, onde tem água em abundância, os recursos naturais e a biodiversidade muito ricas. Eles estão nesses territórios e eles preservaram esses lugares por séculos e séculos. Eles estavam lá muito antes da invasão dos portugueses ao Brasil. É de conhecimento notório da própria arqueologia que existiam milhares de sociedades indígenas no Brasil antes da colonização. E hoje eles estão fazendo a descolonização de toda essa história. Por isso digo que a coisa mais importante que está acontecendo é isso. É a própria palavra indígena ser colocada como verdadeira na grande mídia. Ainda existe muito preconceito, muito racismo, mas eles estão sendo ouvidos. Isso é coisa que sempre batalhei minha vida inteira. O que tem acontecido com os yanomamis, que há 30 anos conheço eles, há 30 anos entrevisto Davi Yanomami, ele denuncia esse genocídio desde esse tempo e a gente continua vendo esse genocídio nas manchetes dos jornais. Esse desconhecimento da população brasileira em relação à Amazônia também é muito difícil. O brasileiro não entende o que é a Amazônia, não tem pertencimento a ela, não tem identidade por ela. E nas cidades da Amazônia, como Manaus, Belém, Rio Branco, Boa Vista, a população não se identifica com essa Amazônia, com esses povos. Ainda existe muito preconceito. É um grande desafio até para nós, jornalistas, enfrentarmos essas situações de diferenças um com o outro.
OP - Você poderia falar da proposta da agência de notícias Amazônia Real, quanto à perspectiva de visibilização e proteção dos povos indígenas? Como é o trabalho?
Kátia - A Amazônia Real foi lançada em 2013, fundada por mim e pela Elaíze Farias. Existia uma terceira jornalista, a Liége Albuquerque. Nós criamos essa agência como jornalismo independente, investigativo, sem fins lucrativos. É independente em relação a recursos públicos, não recebe dinheiro de prefeitura nem de governo, justamente para não passar pela opressão que nós jornalistas passamos nas redações onde trabalhamos. Enfrentei essas dificuldades, a Elaíze enfrentou também vários desses problemas, de incomodar os poderosos de Manaus, por exemplo. Problemas com governadores, prefeitos, empresários, que mandam demitir funcionários porque pagam a publicidade do jornal. A gente não queria isso para Amazônia Real.
A agência nasceu naquele contexto de 2013, daquela revolução, daquela efervescência das pessoas nas ruas. Depois a gente observou que isso tudo levou ao golpe sofrido pela presidente Dilma em 2016. Ninguém sabia o que era em 2013, mas a Amazônia Real naquele momento, nós três estávamos fora de redação, a gente sentiu que tinha que ter essa agência independente. A agência Amazônia Real é no feminino, é mulher também, e resolveu criar para dar a visibilidade que esses povos precisavam. Não só eles, mas também as minorias, as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, os quilombolas, os ribeirinhos, as quebradeiras de coco, o pessoal do Maranhão também que enfrenta uma série de conflitos agrários. A gente acabou recebendo essa demanda dos próprios povos. Quando a gente criou a Amazônia Real foi inclusive usando recursos da minha indenização da Folha de S.Paulo, onde trabalhei por 13 anos.
Passei um ano me dedicando ao projeto, buscando apoio de empresas, publicidade, não conseguimos nada. Em 2014 a gente conseguiu financiamento da Fundação Ford, que foi o primeiro financiamento para uma mídia da Amazônia. Foi um recurso para que déssemos acesso a mídia para populações que não tinham visibilidade. Começamos a formar uma pequena rede de jornalistas nos estados da região. Hoje temos gente em Rondônia, Roraima, Amapá, Belém. Os jornalistas trabalham nas capitais, mas viajam para o Interior também. Quando acontecem os conflitos, eles vão, nós bancamos os recursos, as passagens aéreas. Fazemos reportagens especiais com outros parceiros. Temos esse trabalho com outras mídias independentes. E partir de 2015 começamos a ganhar prêmios nacionais e internacionais, a receber visibilidade. No final de 2013, quando a Amazônia Real começou a cobrir um conflito na região sul do Amazonas, de indígenas e pessoas que desapareceram na terra indígena Tenharim. A população se revoltou e mais de 140 indígenas ficaram ameaçados de morte, tiveram de ser socorridos pelo Batalhão do Exército. A gente não tinha dinheiro para viajar até lá, só tinha os contatos dos indígenas pelo orelhão. Porque não tinha celular também. E começamos a cobrir todo dia, aí a Amazônia Real estourou. Só eu e a Elaíze fizemos essa cobertura. Foi durante o Natal e Ano Novo, não tivemos momento com a família, foi uma loucura. Trabalhamos 24 horas por dia para cobrir isso, só publicando notícias exclusivas, entrevistando todas as pessoas envolvidas nos conflitos, familiares, lideranças, as organizações. E assim começamos. Vai fazer dez anos no dia 20 de outubro de 2023.
OP - As histórias que vocês apresentam na Amazônia Real nem sempre aparecem na grande imprensa, nas redes nacionais. Aqui no Nordeste somos vizinhos e nem sabemos de muitas coisas daí.
Kátia - Exatamente. Gosto sempre de comentar duas coisas desse fato. Em 2013, quando escrevemos nosso primeiro manifesto sobre a importância da Amazônia, falamos dessa invisibilidade. Trabalhei na Folha por 13 anos e (religiosa norte-americana) Dorothy Stang foi assassinada em 2005. Eu cobri, fui pra Anapu (PA), viajei a Transamazônica. Quando estive lá naquela ocasião, não havia nenhuma matéria sobre a Dorothy Stang na Folha de S.Paulo, nenhuma linha. Aquilo me chocou. Procurei um repórter que foi correspondente da Folha em Belém e perguntei por que não havia nenhuma matéria sobre ela. Ele falou que o jornal nunca se interessou pela história dela, que havia tentado pautar diversas vezes. Ela chegou a ganhar um prêmio de direitos humanos em Belém, isso não foi noticiado na mídia nacional. E quando chego em Anapu, a cidade está dividida.
Metade do comércio fechado, metade aberto. Perguntei o que estava acontecendo, aí diziam que ninguém gostava da irmã. Do outro lado diziam que a irmã era uma santa, a pessoa mais bondosa que conheciam na vida. A Dorothy Stang era demonizada. A imprensa de Altamira (PA) só escrevia barbaridades contra ela. Que Dorothy quem ensinava os sem-terra a atirar, que era terrorista, os fazendeiros eram os bonzinhos. No entanto, ela saía a pé da casa dela, andando pela Transamazônica, a primeira pessoa que passava de carro era um fazendeiro e ela pedia carona pra ir até outra comunidade. Pra levar comida para as pessoas que estavam passando fome. Olha que personagem incrível. Eu fiquei quase dois meses ali, entre Anapu e Altamira, fazendo reportagens sobre o assassinato. Houve realmente um consórcio de fazendeiros para matá-la e isso nunca foi investigado pela Polícia Federal.
OP - Você conhecia a história dela ou descobriu também durante a cobertura do assassinato?
Kátia - Eu conheci a história dela após a morte. Eu sabia que existia a Dorothy Stang, mas eu nunca fiz matéria. Eu não trabalhava em Belém, nessa época a gente não entrava na área do outro (repórter). Mas fui cobrir o assassinato e conhecer. Conheci os amigos da Dorothy, os amigos da Comissão Pastoral da Terra, as freiras da ordem religiosa dela (Congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur). Conheci todo mundo. E entrevistei os assassinos e tudo mais. Só pra dizer: essa questão que estou falando é a da invisibilidade. De você não ver entrevista com os povos indígenas nos jornais. Na tevê, um Globo Repórter faz reportagem sobre determinado assunto que envolva indígena e não dá chance para um indígena falar. Quando tem reportagem sobre uma etnia tal, é uma coisa meio folclórica, bizarra, que não é a cultura que está sendo levada a sério.

OP - As abordagens sobre a região normalmente vão para o turístico, o exótico ou as distorções e irregularidades. São questões que a agência busca esclarecer de temas sobre a região?
Kátia - Sim, na verdade a gente até hoje está aprendendo a contar as histórias dos povos tradicionais. Porque não estavam acostumados a ter tanto jornalista querendo saber dos acontecimentos da vida deles. Já teve episódio que eu passei um mês entrevistando uma liderança. Porque não tem um telefone fixo que dê para ligar e ficar horas e horas. Não tem internet, só tem WhatsApp ou celular que só dá para ligar à noite. Houve um conflito no Vale do Javari por volta de 2015. A etnia Matís entrou em conflito com a etnia de índios isolados Korubo. Eu fui entrevistar o Marke Matís, que é um indígena matís. Passei um mês entrevistando ele. Fiz 15 perguntas pra ele, que queria saber se não tinha acabado a entrevista. E eu falei que não, que faltavam respostas, como surgiu o conflito, a opinião. E foi um mês de entrevista para sair como eu queria e que ele detalhasse exatamente tudo que aconteceu naquele momento. E é incrível você ter uma mídia que te permite ficar um tempo num tema, logicamente que fiz outras coisas nesse período.
Eu me proporcionei a conseguir essa entrevista com essa liderança para ele contar as histórias de fatos, de perseguição, do conflito territorial, o que uma etnia pensa da outra. Houve realmente um massacre nessa época, os matís mataram vários korubos e os korubos mataram duas lideranças matís, daí houve essa cisão. Eram detalhes que só com o passar dos dias é que ele ia se abrindo, tendo confiança para conversar comigo. Nessa época entrevistei o coordenador da Funai também, foram mais de 15 perguntas, que ele também demorou a responder. Era um assunto muito polêmico.
OP - Sobre o garimpo, o que mudou desde que você começou a cobrir os casos? O que permite a continuação da atividade, que registra dano ambiental, trabalho escravo, degradação de terras indígenas, estupro de adolescentes, crimes diversos?
Kátia - O que possibilita isso é principalmente o apoio de empresários, políticos. E mais recentemente, de cinco anos pra cá, o narcotráfico. O crime organizado lavando dinheiro do tráfico de drogas a partir da mineração. O investimento pesado em maquinário, em aeronaves. Quando o garimpo foi fechado em 1992 pelo Collor de Melo, lá em Roraima, existiam 400 aeronaves no pátio de Boa Vista. Existem fotos disso. Em Boa Vista entrevistei recentemente uma historiadora, a cidade foi tomada por garimpeiros. Imagina 40 mil pessoas numa cidade que não tinha nem 30 mil habitantes na época? Esse retrato dessa invasão de homens pra lá e pra cá, atrás de minérios em áreas florestais ou terras indígenas é a história da Amazônia. Você vai ver Serra Pelada, o garimpo de Cinta-Larga em Rondônia.
Mais recentemente, coisa de 20 anos, houve um grande garimpo em Apuí, no Amazonas, que é o garimpo do Juma. Eu estive lá, entrevistei o dono do garimpo, que era o Zé Capeta. Era um garimpo com 5 mil homens, um lugar muito perigoso. Consegui entrar lá junto com fotógrafo por causa do Zé Capeta, que nos deu permissão. Mas tinha gente passando com armas na mão. Era uma destruição gigantesca da floresta, nunca tinha visto algo assim de perto, tanta destruição, mudando o curso de rio, derrubando árvore. Tinha prostíbulo também. Esse garimpo do Juma tinha médico, vereador, indígena também, tinha comerciante, tudo garimpando. Em poucos meses eles conseguiram destruir todo o meio ambiente. Tenho essas fotografias até hoje. É uma destruição muito grande que o garimpo faz, dessa forma totalmente ilegal, sem regulamentação, sem organização. O governo, na verdade, nunca colocou na mesa de pauta, de fato, vamos organizar essa questão, vamos regulamentar essa situação.
Ocorreram várias leis, decisões, mas só para beneficiar determinados grupos. Quando a gente chega em 2019, que o Bolsonaro assume o governo, o que ele diz? Não vou demarcar um centímetro de terra e vou liberar a mineração no garimpo em terra indígena. Aí a corrida do ouro, que até 2013 ainda estava mais fechada, não tão forte, ela explodiu. O garimpo do Tapajós, no Pará. O garimpo do Cinta-larga voltou e na terra indígena yanomami estourou. Chegou a mais de 20 mil pessoas dentro da terra yanomami. E toda essa destruição que a gente vê, que é a realidade de fato. É impressionante como se destrói facilmente o meio ambiente com o garimpo ilegal. E com a utilização do mercúrio, que é o maior contaminante, não só das águas, dos rios, mas também da saúde humana. Tem grandes investidores. Em 2021 fizemos uma reportagem chamada "Ouro do sangue yanomami", que foi uma parceria nossa com a agência Repórter Brasil. A Amazônia Real conseguiu financiamento e bancou toda essa reportagem especial. Esse material surgiu de duas perguntas que sempre me provocaram muito: quem compra o ouro e quem vende o ouro. Através dessas duas frases, a gente resolveu se provocar, investigar e apontar o caminho. O caminho sai da terra indígena, aí começa a ter toda a questão de venda ilegal, notas fiscais fraudulentas.

OP - Aonde esse ouro vai parar?
Kátia - Ele sai da terra indígena, é vendido nas lojinhas de Boa Vista. Funcionários públicos inclusive participam desse comércio ilegal, investimentos de empresários, políticos, de Roraima e de outros Estados da Amazônia. Envolvimento com o narcotráfico porque tem a fronteira com a Venezuela, por onde entra muita gente do crime organizado. Hoje em dia é o crime organizado que dá suporte a esses garimpeiros, apesar de pessoas da imprensa não acreditarem que o narcotráfico está ali. mas já foi comprovado. A Polícia Federal tem inquérito, prendeu pessoas ligadas ao crime organizado envolvidas com a lavagem de ouro dentro da terra yanomami. E esse ouro sai e é regulamentado através de nota fiscal fraudulenta em Porto Velho, Mato Grosso, no Pará, e chega na avenida Paulista. O caminho do ouro vai para a avenida Paulista. Para essas empresas que são autorizadas pelo Banco Central, que não são fiscalizadas pela Receita Federal, por ninguém. E daí para o exterior. O ouro do sangue yanomami pode estar no seu celular, porque as peças de celulares também precisam de ouro. Tá na área tecnológica, na área de indústria. Tá tudo contaminado. A Repórter Brasil tem a expertise de fazer matérias sobre trabalho escravo.
A pessoa tem que ter consciência do produto que ela está comprando. Quando chamamos a Repórter Brasil para entrar nessa investigação conjunta, foi justamente porque eles têm essa expertise em investigar a cadeia do trabalho análogo a escravidão. Eles vão para várias áreas têxteis, de fabricação de alimentos, apuram e apontam a ilegalidade nas cadeias produtivas. Foi o que fizemos com o ouro. Eles investigaram essa questão. Já tínhamos levantado na Amazônia Real que o ouro chegava na avenida Paulista, em São Paulo. A Polícia Federal começou a investigar em 2015, mas não foi aprofundada. Pedimos dados pela Lei de Acesso à Informação a diversos inquéritos, tivemos acesso a três. Aí conseguimos cruzar as empresas que são as vendedoras do ouro e pudemos mostrar essa cadeia. Com a continuidade da apuração pela Repórter Brasil, já se sabe que esse ouro chega a celulares, nas joias de grandes joalherias envolvidas nisso, e é preciso que a pessoa pergunte. Qual é a origem desse ouro? Porque esse ouro é todo vendido de forma ilegal no Brasil.
Quando acaba o governo Bolsonaro e assume o Lula, em todo o processo que passamos de discussão da democracia, de violências que aconteceram com os próprios jornalistas, havia um tumulto antidemocrático na governabilidade brasileira, mas conseguimos restabelecer nosso país e Lula começa a tomar as providências. É quando começa a crise humanitária e sanitária na terra indígena yanomami, com a situação do colapso na saúde indígena. Bolsonaro desmontou todos os órgãos de assistência indígena, como Funai, Ibama, ICMBio, a Sesai. Os indígenas sofreram muito na pandemia. Com todo o colapso ambiental nas terras yanomami, estourou essa crise, o presidente se viu obrigado a tomar decisões que pudessem desestabilizar toda essa cadeia ilegal. Hoje já se tem uma decisão da Receita Federal, para legalizar as notas fiscais da compra e venda de ouro. As notas precisam ser eletrônicas e isso vai reduzir muito essa ilegalidade. E o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, acabou com um jabuti que existia numa lei, que foi criada por um deputado do PT, por incrível que pareça, no período do governo Dilma. Ele colocou lá um dispositivo, que os parlamentares chamam de jabuti, numa legislação que tratava de agricultura, que permite que a pessoa assine um documento de boa fé que aquele ouro foi vendido de forma legal. O que de fato não é. Isso acabou expandindo muito essa ilegalidade nesse mercado. Entrevistamos esse deputado, ele se diz até arrependido por ter feito isso, e pediu através de ações na Justiça para que a medida dessa lei fosse retirada. E o ministro Gilmar Mendes autorizou. Isso vai realmente barrar esse comércio ilegal. Mas os garimpos ilegais estão ativos, nesse momento que estamos nessa entrevista.
Tem garimpo ilegal na terra indígena Cinta-larga, nos mundurukus, nos caiapós. Por incrível que pareça, ainda tem muitos garimpeiros na terra indígena yanomami. Eles não foram retirados na sua totalidade. Ainda existe gente lá dentro tirando ouro das terras. Infelizmente essa é a realidade. É preciso que o País, o governo, faça uma ação de fato para a retirada desses homens. Para acabar com essa violência socioambiental que está acontecendo nesse momento na Amazônia. Outros territórios podem, inclusive, sofrer esse colapso de saúde, se não houver uma decisão imediata. O governo Lula recomeçou sem recursos em caixa, estão fazendo tratativas para se conseguir recursos do exterior, de países que tenham sensibilidade para ajudar nessa causa. Tem que ter compaixão porque são vidas humanas, que importam e que estão sendo mortas todos os dias. Porque o garimpo mata de fato.
Leia também | A crise Yanomami e a irregularidade no mercado de ouro: o que isso tem a ver com você

OP - Sobre as mortes do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, o que ainda há para contar do caso, quase um ano depois da ocorrência (os dois foram assassinados no dia 5 de junho de 2022, na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas)?
Kátia - No caso do Vale do Javari, a gente observa o tráfico envolvido com o mercado da pesca ilegal. Ali é muito forte. É uma região de fronteira. Países como Peru, Colômbia e Venezuela são produtores de cocaína, todo mundo tem conhecimento disso. Trabalhei diversos anos cobrindo operações da Polícia Federal de combate ao narcotráfico na fronteira. Visitei vários territórios ali, os outros países também. Conheço bem aquela região. Acontecem muitas mortes na impunidade. Ali em Tabatinga, por exemplo, que é a cidade foco de toda essa tensão, é uma região sem lei. A violência lá é extrema. Colombianos envolvidos com guerrilhas, com paramilitares, eles atravessam o Brasil, são contratados para matar brasileiros envolvidos com o narcotráfico naquela fronteira. É um lugar que tem assassinatos todos os dias. O índice de assassinatos é muito alto. E os defensores da floresta, dos povos indígenas, são todos ameaçados.
O Bruno já era ameaçado antes mesmo do ano de 2019, quando ele rompeu com o governo. Saiu de uma operação que estava fazendo, desagradando o governo Bolsonaro, que já tinha anunciado que iria apoiar o garimpo. Já tinha essa pressão, mas houve um assassinato antes, de um funcionário da Funai (Maxciel Pereira dos Santos, em setembro de 2019), morto em pleno dia. Ele estava na moto junto com a esposa, que também foi um crime que ficou na impunidade. Só com o assassinato do Bruno, em 2022, é que esse crime também veio à tona e se passa à investigação. Mas todos os envolvidos nessa situação são pessoas que trabalham com a pesca ilegal dentro da terra indígena Vale do Javari, que é um ambiente onde vivem mais de 5 mil indígenas de diversas etnias. Inclusive etnias isoladas. Volto àquele assunto, de que a presença do Estado é inexistente. Há fiscalizações pontuais, patrulhas, bases da Polícia Federal instaladas que foram retiradas. Antes mesmo do governo Bolsonaro não se tinha investimento nessas bases. Já existiam operações de desmonte dessas bases de segurança. Por volta de 2018, na época da eleição do Bolsonaro, a gente relatou na Amazônia Real que as bases da Funai estavam sendo atacadas a tiros à noite, por pescadores que passavam.
A tensão era muito grande. Havia garimpos em outras regiões, como no rio Jandiatuba (afluente do rio Solimões). Um garimpo muito grande, com balsas grandes. São balsas que custam de R$ 3 milhões a R$ 6 milhões. Quem paga? De onde vem esse dinheiro? Alguém está bancando. É o narcotráfico que paga isso. Apesar dos muitos setores da imprensa não acreditarem nisso, mas é a realidade. Quem vive ali, que está nessa realidade todo dia, sabe. E as principais fontes são os indígenas, eles que devem ser escutados. Inclusive muitos deles estão no inquérito das mortes do Dom e do Bruno como testemunhas de acusação. Justamente porque eles sabem quem são aquelas pessoas envolvidas nesse crime. Não são duas nem três, são várias. Existem comunidades inteiras envolvidas com esse assassinato, infelizmente.
São comunidades que antes da demarcação viviam dentro da terra indígena yanomami. Com a pressão e a própria homologação das terras, elas foram retiradas, mas ficaram no entorno e vivem da pesca dentro da terra indígena. Porque é lá que tem peixe, é lá que tem o pirarucu que vale R$ 2 mil no mercado da Colômbia. E as pessoas pagam por isso. Tem vários peixes valiosos, tartarugas que valem R$ 500, então é muito fácil tirar lá de graça e vender e faturar e enriquecer. Quem financia o barco? Quem financia a gasolina? É o mercado ilegal da pesca envolvido com o narcotráfico. Essa é a realidade. A Polícia tem que continuar investigando. É preciso apontar os outros envolvidos. Já se sabe que o "Colômbia" (Rubén Dario da Silva Villar, preso em julho de 2022, solto em outubro após fiança e preso novamente em dezembro, investigado por tráfico de drogas e pesca ilegal) é o mandante. E foi mandante também do outro assassinato (de Maxciel). É um cara que está preso, todos presos em presídios de segurança máxima fora de Manaus, mas é preciso investigar. (Os três acusados pelas execuções de Dom e Bruno prestaram os primeiros depoimentos à Justiça no último dia 9 de maio. São réus os pescadores Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, e Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”. A Justiça irá definir se eles vão a júri popular. "Colômbia" ainda não foi denunciado à Justiça pelo caso).
Há uma morosidade, é preciso que a Justiça tenha rapidez para elucidar esse crime e que as pessoas sejam responsabilizadas e os culpados respondam em regime fechado. Foram dois crimes bárbaros, que repercutiram não só nacional e internacionalmente, mas também repercutiu na nossa vida de jornalista. Porque a gente já sabia que existia essa insegurança. A Amazônia Real adota plano de segurança desde 2019. Porque já tinha observado a situação muito tensa naquela e em outras regiões. A gente adota uma série de medidas para mandar um repórter a campo e tivemos que melhorar esse plano. Em alguns lugares precisa viajar até com segurança, para não deixar o jornalista em situação de vulnerabilidade. Além de toda a questão da covid, de segurança sanitária, vacinas. Hoje temos seguro saúde, seguro de vida, pra não deixar o jornalista de alguma forma vulnerável a crimes e ameaças de morte.
OP - Voltando à tragédia dos yanomamis, vi a reportagem na Amazônia Real sobre uma criança indígena (de um ano e quatro meses) que pesava "quatro ponto 300" (título da matéria). Os casos são ainda piores?
Kátia - Essas imagens, eu fico muito emocionada inclusive, das crianças desnutridas, as mães sem leite materno. Isso já vinha surgindo. A partir de 2021 a gente teve algumas informações e imagens de mulheres em desnutrição grave. Recebemos esses relatos. Mas a Amazônia Real tem por norma não publicar imagens de crianças vulneráveis. A gente pede para os fotógrafos não registrarem as crianças sem roupa, mesmo sendo da cultura delas. Porque tem a questão de as fotos irem para a Internet e haver alguma agressão ou violência contra as crianças. Temos um trabalho grande de defesa das crianças e adolescentes na Amazônia Real. A gente preserva muito isso. Temos inclusive código de ética, para evitar que isso possa ferir a cultura indígena. Quando chega janeiro de 2023, que isso vem à tona através do site Sumaúma - eles foram os primeiros a divulgar a imagem das muitas crianças desnutridas -, o presidente Lula inclusive decide ir para lá, no dia 20 de janeiro. Ele decreta a situação de calamidade sanitária e humanitária na terra indígena yanomami. A gente começa a cobrir, aí os relatos são os piores possíveis. Não se tem ainda um censo, um diagnóstico do Ministério da Saúde de quantas crianças morreram de 2018 para cá. Ainda estão fazendo esse levantamento. A terra indígena ficou desassistida porque Bolsonaro cortou as verbas da saúde. Ele tem que responder por crime de genocídio.
Ele, o presidente da Funai, o ministro da Saúde, o coordenador da Sesai (Secretaria da Saúde Indígena) e de todos os distritos sanitários. Ele colocou militares nos distritos sanitários para lidar com essa questão. Essas pessoas, de alguma forma, têm que responder. Isso não pode ficar na impunidade. E até hoje ainda está. É uma prioridade que a Justiça precisa levar adiante. O que aconteceu na terra indígena yanomami foi um crime sequenciado, a partir de 2019. Crimes sequenciados e a liberação total daquele território para a garimpagem ilegal. Isso são coisas que precisam ter uma resposta do governo Lula.
A saúde yanomami continua debilitada, eles não estão 100%. É preciso muita atenção, que o governo responda a todas as promessas feitas. De criar postos de saúde lá, criar hospital. Os yanomamis, a vida deles depende da floresta. Eles não têm uma geladeira cheia de comida do supermercado. A comida, eles têm que plantar, têm que fazer a roça. E tem o período certo de plantar, colher, toda uma questão ancestral da cultura deles. É daquilo que eles vivem. Os rios precisam estar limpos, os peixes não podem estar contaminados de mercúrio. Já perguntei ao Davi e ao Dário Yanomami, que são as duas maiores lideranças daquela região, se eles iriam mudar de lugar, se iriam para florestas mais altas. Não, eles vão ficar lá e dizem que a floresta vai se recompor. Mas é preciso retirar os garimpeiros. Quando uma criança chega ao ponto de ter quatro quilos 300 gramas, uma criança de quase dois anos de idade, é o retrato do que podemos chamar de maior genocídio. Todos temos responsabilidade por isso, temos que fazer mea culpa. Acho que é a imagem mais chocante para todo mundo. Os povos indígenas precisam ser respeitados, terem a garantia da sua sobrevivência. Seus territórios precisam ser demarcados para que as outras gerações possam sobreviver.
OP - Como foi a pandemia para os povos indígenas?
Kátia - Foi muito difícil, uma catástrofe. A pandemia foi decretada em 11 de março de 2020 pela ONU. Em 13 de março foi anunciado o primeiro contágio em Manaus e, por volta de abril, morreu o primeiro indígena, que era justamente um yanomami. Fiz essa reportagem com uma colega chamada Isabel Santos, que trabalhou na Amazônia Real nessa época. Começamos a contar as mortes, eram muitas. Esse menino yanomami morreu por negligência, ninguém sabia o que ele tinha. Ele ia para um hospital, voltava para a aldeia. Ia para outro hospital, para o posto médico, posto de saúde da aldeia, passou praticamente um mês indo e voltando e ninguém sabia que ele tinha covid. Não fizeram teste no garoto. Quando ele morreu já tinha desnutrição, malária, covid.
Foi uma morte muito chocante pra gente. Foi muito duro escrever isso. Os mundurukus eram relatos diários deles morrendo. Os kokamas, no interior de Manaus, foram uma etnia que teve muitas mortes. E a gente viu que a Sesai não estava orientando os indígenas como deveria orientar. Não tinham álcool em gel, não tinham sabão para lavar as mãos, não tinham medidas de afastamento. Como você vai isolar uma aldeia onde moram 400 pessoas? Dentro de malocas moram 20, 30 pessoas. Como isolar essas pessoas? Os documentos da Sesai não levaram adiante a tradução nas línguas indígenas. Era muita desinformação. E eles começaram a tomar suas próprias decisões.
A primeira decisão, lembro que chegou do Xingu. O pessoal de lá resolveu fechar o Xingu inteiro e fazer um documento, traduzido nas línguas, explicando o que era o álcool em gel, o sabão, o que era lavar a mão toda hora. Eles foram se virando, literalmente. A gente inclusive foi muito pressionada por causa disso, porque o vírus começou a chegar próximo das terras indígenas dos isolados lá no Javari. E teve uma liderança em Manaus, supostamente indígena, que passou uma hora no Facebook atacando eu e a Elaíze Farias. Foi ataque misógino, inclusive. Diziam que éramos bandidas, que produzimos fake news, que a gente recebia dinheiro de ONG.
Pedimos ajuda jurídica e conseguimos contornar inclusive com o chefe da Sesai, porque claramente tinha ali uma participação dessa pessoa com a Sesai. Procurei e alertei que ele deveria falar para a pessoa parar de fazer aquilo. Nossos advogados disseram para não compartilhar, porque iria viralizar. Foi a orientação dada pelos advogados. Tentar neutralizar. Nós copiamos o vídeo, guardamos para possíveis ações judiciais, mas acabamos não entrando. Mas provocamos o governo a tomar iniciativas e eles estavam dizendo que era mentira. Desde o primeiro momento da pandemia, não só o presidente mas também todo o seu staff diziam que não havia pandemia. O negacionismo imperando. E isso continuou até 2022, quando os índices já estavam caindo, já havia vacina. Mas no início era muito enfrentamento, muito embate. E enfrentamos tudo isso.

OP - Acredita-se que quantos indígenas morreram?
Kátia - Mais de mil índios morreram. (Segundo a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – Coiab, há 1.615 óbitos por covid registrados dentre 121 povos. No total, são 48.618 casos em 158 povos, com 360.997 doses de vacinas aplicadas. Dados até 23/5/2023).
OP - Como avalia a escolha deste governo Lula para a gestão ambiental e sobre o Ministério dos Povos Indígenas?
Kátia - O Lula conseguiu colocar mulheres nesses ministérios. Isso foi importante. A forma como introduziu a equidade e a diversidade étnico-racial no governo. Não temos muitas mulheres, mas temos várias nos cargos de chefia. A criação do Ministério dos Povos Indígenas realmente é algo muito importante, um diferencial muito grande. Os cargos dentro do ministério são todos com indígenas. A Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente é uma pessoa com uma expertise muito grande, muito reconhecida fora do Brasil e consegue trazer ações para essa área, tratar com outros países. A parte de financiamento, a volta do Fundo Amazônia se deve muito a essa política ambiental que a Marina tem. Acredito que o governo possa avançar muito na proteção não só do bioma Amazônia, mas na Mata Atlântica, no cerrado, no Pantanal. O Brasil é um país muito diverso, geograficamente é imenso e cheio de biodiversidade. É preciso proteger todos esses ambientes pra gente se manter vivo. A biodiversidade é importante até para a sobrevivência do ser humano na Terra. As crises climáticas vêm porque os ecossistemas estão sendo destruídos em várias partes do mundo de forma devastadora. Não só no Brasil. Se nós temos tempo ainda para cuidar, para preservar, esse momento é agora, com o novo governo já fazendo essas ações. Logicamente que precisa avançar. É preciso retirar os garimpeiros, é preciso ter a política para reconstruir tudo isso, ampliar os financiamentos para os órgãos de fiscalização, Ibama e ICMBio. É preciso que essas pessoas tenham recursos para trabalhar de fato. Precisa equipar também nossa Polícia Federal, que foi desmontada durante o governo Bolsonaro. Ampliar a segurança nas fronteiras, levar as bases para as fronteiras. Existia um plano, ainda no ano 2003, que um delegado federal começou a planejar uma série de balsas e bases em todas as fronteiras do Brasil, e isso acabou se perdendo. Foi no governo FHC, entrou o governo Lula e foi se perdendo. Estamos como um dos países mais importantes para o narcotráfico, a rota da droga passa toda pelo Brasil, e há inúmeras cidades sitiadas pelo narcotráfico. Existem diversas comunidades que estão reféns dos narcotraficantes, inclusive comunidades indígenas. Hoje tem relatos de aldeias em que o narcotráfico está mandando mais do que o cacique, porque eles fazem rotas por esses territórios. Ali na fronteira da Bolívia com o Acre, na fronteira do Amazonas com a Colômbia. Essas comunidades ribeirinhas enfrentam problema de pressão do crime organizado. É preciso reforçar as fronteiras, que o Brasil dê segurança de fato. O Exército está aí para fazer esse trabalho também. Que haja os investimentos corretos para a segurança do país. Nosso país é muito grande, mas ele precisa ser cuidado. Esse é o momento de cuidar.
OP - Como você imagina a Amazônia daqui a 50 anos?
Kátia - Daqui a 50 anos a gente não vai estar aqui, né? Já serão as futuras gerações. Acredito que a Amazônia, se realmente se chegar ao entendimento que os povos indígenas são os responsáveis por essa sobrevivência, eles precisam ter garantidos os direitos à educação, à saúde, aos seus territórios. As futuras gerações vão cuidar da Amazônia tão bem quanto seus antepassados. Antes de existir o Brasil, eles que cuidavam da Amazônia. Acho que será uma região que conseguirá sobreviver de fato, eles são muito fortes. Eles não caem por qualquer coisa. Apesar de tudo que já aconteceu, mais de 500 anos de colonização, eles conseguiram sobreviver, mas é preciso ter investimentos. Falo da Amazônia como um todo. A região precisa de educação, saúde, universidades, que as indústrias que estejam lá tenham sensibilidade para essa região. Invistam também. Não é só retirar os seus ganhos.
A Zona Franca de Manaus, com 400 indústrias, é preciso saber o que ela fez pela Amazônia. Não fez sustentabilidade nenhuma. O desenvolvimento sustentável é uma coisa que ainda está no imaginário da população, não chegou ainda. É preciso que essas empresas não só retirem os seus faturamentos em dólar, mas também repassem para ela investimentos. A região precisa ter segurança, porque está muito vulnerável. É preciso uma coalizão de empresas, governos, além de evitar a corrupção, que é outro dano muito forte. Temos governos que continuam desviando recursos das suas contas e as cidades vendo estados de calamidade em segurança e saúde, como vimos na pandemia. O grande problema da pandemia na Amazônia foi justamente a falta de equipamentos nos hospitais, falta de UTIs, de respiradores, e governadores desviando recursos. As pessoas morrendo por falta de oxigênio e os recursos sendo desviados. Alguém foi preso? Ninguém, todo mundo na impunidade. Basta de impunidade na Amazônia.

Leia também |
- "Povo Yanomami vive seu pior momento" , afirma antropóloga Hanna Limulja
- Ítalo Coriolano: Yanomamis, o passado presente
Kátia Brasil é jornalista formada pela Faculdade de Comunicação e Turismo Hélio Alonso (RJ). Iniciou a profissão nas rádios Tupi e Tropical, onde também participou como editora da Revista Momentos e foi uma das fundadoras do jornal de bairro Folha de Santa Teresa (1987).
Entre as várias premiações jornalísticas, o Esso Regional (1991), o prêmio Internacional Rei da Espanha (2019), o Prêmio Abraji (2021) e Comunique-se (2021) e o Prêmio Vladimir Herzog Especial (2022) estão entre os mais importantes.
A entrevista foi feita por videoconferência, durou cerca de 80 minutos. Uma falha na conexão (do repórter) quase atrapalhou e o trecho final teve as perguntas feitas por mensagem.
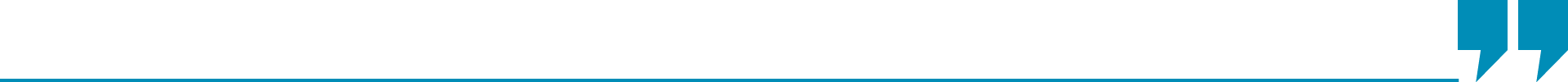
Grandes entrevistas


