
Roberto morria de medo ao fotografar os transeuntes no parque mais antigo de São Paulo, o Jardim da Luz. Com uma câmera descartável comprada em papelaria, aos 13 anos, ele achava que o fato de não ser visto pelo fotografado lhe garantiria uma boa imagem.
Cinquenta e oito anos depois, parafraseando o fotógrafo de guerra húngaro Robert Capa, o paulistano entendeu que, se "suas fotos não estão boas o suficiente, você não está perto o suficiente".
Assim, ao longo de sua carreira, o que Bob Wolfenson fez foi se aproximar dos outros: políticos, músicos, atletas, atores, modelos e desconhecidos nas ruas da China.

Para ele, aos 71 anos, o ofício segue sendo um campo de realização, tanto para quem olha pelo visor da câmera quanto para quem se deixa ser visto também.
“Ao entrar no set, existe um sentido de realização de um desejo da pessoa. Todos esses desejos pairam e se sobrevoam no set fotográfico. É a fricção desses desejos que torna aquele resultado um retrato. Eu vou para os retratos muito desarmado, porque a interlocução com o outro é muito importante. O sujeito que está diante de mim é quem vai determinar como vai sair”, explica.
Desarmado, o fotógrafo desembarcou em Fortaleza para um workshop no Museu da Fotografia, no dia 18 de outubro. Assim como em seus ensaios, o tom da palestra foi ditado pelos outros na plateia, que tiravam dúvidas ávidas sobre iluminação, enquadramento e as inúmeras histórias curiosas por trás de cada retratado.
Com mais de 350 mil registros analógicos e 700 mil no acervo digital, suas imagens ocupam o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC), o Museu da Fotografia da Cidade de Curitiba, a Zacheta National Gallery of Art (Varsóvia), além de diversas paredes de casas brasileiras.
Da sobrancelha arqueada de Caetano Veloso ao retrato de Rita Lee ao piano, com 55 anos de carreira, Bob reafirma sua contribuição para formar um acervo visual que participa da memória coletiva do país, registrando tanto ícones nacionais quanto o cenário urbano em constante transformação.
Em entrevista ao O POVO, Bob Wolfenson reflete sobre o papel do fotógrafo como mediador entre desejo e representação e cruza sua trajetória com a história do Brasil contemporâneo.
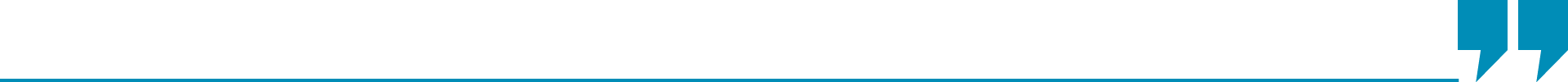
O POVO - Sua mãe veio da Polônia, seu pai da Bessarábia, no Leste Europeu. Como foi para você crescer nesse ambiente?
Bob Wolfenson - Meu pai se dizia pernambucano, porque chegou aqui muito criança. Ele tinha sotaque pernambucano, cultura pernambucana, dançava frevo. Eu era profundamente influenciado pelo sotaque, pela forma como ele e minhas tias falavam. Pernambuco, para mim, foi uma fundação também. Minha mãe e os pais dela chegaram em São Paulo quando ela era muito pequena também.
Em casa, eles falavam sem sotaque de estrangeiro, falavam como brasileiros. Fui criado nesse ambiente, um caldeirão sincrético: Leste Europeu, judaísmo, Nordeste, São Paulo... esse sincretismo todo foi o que me formou.
O POVO - Como a fotografia chegou até você?
Bob - Apesar de não terem muito dinheiro, meus pais se preocupavam muito com minha formação. Me colocaram para estudar música, francês, inglês, ao mesmo tempo em que me proporcionaram outras vivências. No meu aniversário de 13 anos, me deram uma câmera fotográfica. Compraram em uma papelaria perto de casa, uma máquina muito simples, mas era minha.
Morava ao lado de um parque chamado Jardim da Luz e fui fotografar lá. Lembro que, quando revelei as fotos, achei interessante porque eu ficava de longe, sem querer que as pessoas me vissem fotografando. Tinha um pouco de medo, mas era o que eu podia fazer.

Depois, toda a minha história foi sobre estar perto. O Robert Capa disse: "Se a foto não é boa o suficiente, é porque você não está perto o suficiente." Gosto muito dessa frase. Uma metáfora desse primeiro encontro com a fotografia é que posso dizer que fui me aproximando das pessoas, dos lugares, das coisas e até da minha personalidade como fotógrafo.
O POVO - Aos 16 anos, você iniciou profissionalmente na Editora Abril. Como chegou à especialização em retratos? Foi uma decisão consciente?
Bob - No começo, eu dizia que fotografava de tudo: de urubu a cobra-d"água. Entre esses urubus e cobras, havia muitas pessoas. Pode não ter sido de fato a primeira, mas a primeira foto que me lembro de ter publicado foi um retrato do diretor Zé Celso, na Veja. Depois disso, comecei a misturar outros tipos de trabalho.
Mas a coisa mais permanente é o retrato. É pelo que sou mais reconhecido e o que mais pratiquei. Se há algo original no meu trabalho, é o fato de eu transitar por várias disciplinas da fotografia. Eu não seria quem sou hoje se não fossem todos esses "outros" fotógrafos que me habitam. Preciso do fotógrafo de publicidade, porque ele me dá técnica e financia meus projetos pessoais.
Do fotógrafo de retratos, porque gosto de pessoas e da interação. Do de nus, porque tenho esse lado da sedução. Preciso dos meus trabalhos pessoais, porque são meu escape das encomendas. Da fotografia de moda, porque gosto das construções que faço. Tudo isso está presente em mim, mesmo quando parece que não tem relação.

Uma vez, fiz um trabalho sobre apreensões policiais. Um repórter me perguntou por que eu fazia aquilo. Respondi: "Porque quero fazer, posso e tenho os meios para isso. Sou cidadão." Durante essa entrevista, uma menina da periferia viu o trabalho e disse: "Essas fotos parecem que eu estou dentro delas." Aquilo me marcou muito e pensei: "Deu certo o que eu fiz."
O POVO - Como é o seu fazer dentro do estúdio? Você tem alguma rotina?
Bob - Quando vou fazer um retrato, penso na luz. No meu estúdio entra uma luz natural muito boa, e se o dia estiver bonito, deixo essa luz penetrar. Tenho também uma luz de retrato, bem ampla, que permite muitas variações. Vou me guiando pelo encontro, pelo que a pessoa me oferece. Dou alguns comandos que já fazem parte da minha prática, mas depende muito do outro.
O POVO - Como funciona a cooperação entre quem fotografa e quem é fotografado? O quanto isso influencia o resultado final?
Bob - Acho que, quando a pessoa coopera, o resultado é muito mais amplo. Não é necessariamente melhor, mas você tem mais opções, pode peneirar mais. O não cooperativo também pode render uma boa foto, como o caso do João Cabral de Melo Neto.
Quando estou diante de alguém assim, deixo a pessoa ser. Não dirijo muito, deixo ela se manifestar. O estrionismo vem à tona. Se quero algo extraordinário, invado um pouco com minhas ideias, mas se deixo a pessoa vir, fica fácil.
O POVO - Qual a história por trás desse retrato do João Cabral?
Bob - Eu fui fazer uma exposição nos anos 90, no MASP. Era uma seleção de retratos, um mix de oportunidades profissionais com escolhas de pessoas que eu tinha um desejo de fotografar. Escolhi o João Cabral porque queria, tinha muita admiração por ele.
!['É a antítese daquela ideia de que foto boa é foto descontraída. [...] Uma pessoa pouco cooperativa não determina que o trabalho não vai se realizar'(Foto: AURÉLIO ALVES) 'É a antítese daquela ideia de que foto boa é foto descontraída. [...] Uma pessoa pouco cooperativa não determina que o trabalho não vai se realizar'(Foto: AURÉLIO ALVES)](https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2025/11/06/300x450/1_bob_wolfenson_21-37775252.jpg)
Cheguei no dia, na Academia Brasileira de Letras, e ele não queria ser fotografado, nem sabia que aquilo iria acontecer. Expliquei para a produtora que tínhamos vindo de São Paulo expressamente para isso. Ele não queria de forma alguma, mas convenceram através da mulher dele, que nos franqueou a possibilidade.
Desse dia, existem 17 frames de fotos em que não fizemos nada. Eu estava com medo dele e ele com medo de mim. Fiquei com a câmera parada, e não aconteceu nada, nem uma piscada de olho.
Aí resolvi me aproximar. E continuou não acontecendo nada. Até que, uma hora, acho que pedi para ele cruzar o braço e comecei a mudar de ângulo, fazer coisas um pouco menos à mercê da vontade dele. Comecei a vencer esse medo para que eu pudesse realmente ter um retrato relevante. Em algum momento, pedi para ele colocar a mão no queixo, que é uma coisa que só fotógrafo pede. No fim, a foto que acabou sendo a escolhida é essa dele, meio sonhante, e é uma foto que eu gosto muito.
Te conto isso como uma antítese daquela ideia de que foto boa é foto descontraída. Obviamente, uma pessoa mais cooperativa permite mais variações, dá para fazer coisas diferentes. Mas uma pessoa pouco cooperativa não determina que o trabalho não vai se realizar.
A ideia de fotogenia, de que é preciso ter um pouco de desinibição, eu acho uma balela também. Eu não abraço essa ideia. Eu abraço a ideia do encontro. Acho que o retrato é um encontro, que consequentemente obedece à natureza dos encontros. Nesse encontro, o que acontecer entre fotógrafo e fotografado vai estar estampado na imagem feita.

O POVO - A maioria das pessoas que você fotografa, você já conhece antes? Existe alguma diferença ao fotografar um desconhecido?
Bob - Na maioria das vezes, não conheço. Se tenho uma relação prévia, começamos conversando. Mas mesmo quando não tenho, começo assim. Isso não garante nada. O momento é o que mais importa: como as pessoas estão ali, qual a intensidade daquele encontro, o que a pessoa pode oferecer naquele dia.

O POVO - Em 1982, você pausou sua carreira no Brasil para trabalhar em Nova York. Como se deu essa ida e o que mudou em você depois disso?
Bob - Naquela época, eu olhava para minha carreira e me achava medíocre. Pensei: "Preciso aprender, trabalhar com alguém, voltar a ser assistente." Vendi tudo e fui, estabelecendo o compromisso de trabalhar só com fotografia.
Mandei carta para cinco fotógrafos que eu admirava, e o Bill King me respondeu. Fui ao estúdio dele, mostrei meu portfólio. Ele disse "muito bom", me contratou como assistente. Na época nem era, ele falou só para ser gentil. Mas foi uma experiência seminal, um divisor de águas.
Quando voltei, voltei mais fortalecido psicologicamente, tecnicamente e com uma noção de marketing pessoal. Hoje olho para trás e já não acho que o que fiz até 1982 era medíocre. Pelo contrário, era o espírito da época: jovem, insolente, câmera de cima, grande-angular, roupas coloridas, cabelo grande. Eu era o retrato daquela época também. Só não tinha distanciamento para perceber. Hoje vejo que era bom.
O POVO - Depois disso, teve algum outro momento de ruptura na sua trajetória?
Bob - Meu antigo estúdio, na Vila Leopoldina, onde trabalhei por quase vinte anos, sofreu duas inundações. A primeira em 2005 e a segunda, mais severa, em 2020, com quase 80% do material comprometido.
A segunda me jogou num lugar que eu não conhecia em mim. Sempre fui muito "aqui e agora", porque precisava continuar trabalhando, até por questões financeiras. Não estava muito aí para o meu acervo, mas minhas assistentes, mais jovens, começaram a revisitá-lo, e me deparei com esses trabalhos antigos.
Disso saiu a exposição SUB/EMERSO, que reuniu essas imagens restauradas, com marcas de água, respingos e escorrimentos, que lhes acrescentaram uma "sobrememória". Na época, o Instituto Moreira Salles me procurou e disse: "Olha, a gente precisa te ajudar a salvar teu arquivo, porque ele não é só seu. Não é privado. É um arquivo da memória."

E foi aí que me dei conta de que, nas figuras que fotografei, nos elementos, nos luminares da cultura, da política, do esporte, fiz uma contribuição para a memória dos últimos 55 anos do Brasil. Então acho que, de certa forma, entendi que estou nesse verbete da história da fotografia brasileira.
O POVO - A sua carreira também é marcada pelos nus para a Playboy, na década de 1990. Como você enxerga esses trabalhos hoje?
Bob - Naquela época, não se pensava no machismo. Não havia movimento contra a objetificação, e eu confesso que não tinha capacidade de entender o que aquilo significava. Hoje olho e vejo que a revista era machista, sim, feita para objetificar o corpo da mulher, cheia de duplos sentidos.

E as mulheres também estavam incorporadas a isso, de forma totalmente normalizada. Era um evento nacional: "Quem vai ser a próxima capa da Playboy?" Tive a sorte de ser escolhido por algumas delas, e isso construiu uma parte importante da minha carreira.
Vejo que o conteúdo da revista e todo o seu entorno eram constrangedores, mas o meu trabalho, não. Cada foto daquelas, como as da Maitê Proença na Itália, conta uma história. E o que poucos sabem é que existia uma subversão da mulher, quem mandava em tudo eram elas.
Elas decidiam tudo e ficavam com a maioria do dinheiro. Eu ganhava o meu quinhão, mas era apenas um fotógrafo às ordens do olhar feminino e, ao mesmo tempo, em aliança com elas.
O POVO - Existe alguma metodologia para conduzir esses ensaios nus?
Bob - Mesmo quando é um nu, a pessoa sempre começa vestida e peço para ela ir tirando peças aos poucos. Às vezes tem 50 pessoas no estúdio, e você tem que ir compreendendo a pessoa. Ao longo da sessão, o outro vai perdendo a marra, sentindo essa coisa que acontece, que é um pouco inexplicável. Existe uma sedução no trabalho, uma sedução de trazer o outro para o seu lado.
O POVO - Muitos falam que você captura a "alma das pessoas". O que você acha sobre isso?
Bob - Não acredito nisso. O Richard Avedon fala uma coisa ótima: "Fotografia é superfície. Se você raspar aquela superfície, encontra outra superfície."

Essa ideia de revelar a alma profunda da pessoa é uma bobagem. Primeiro, por que você gostaria de fazer isso? Qual é o objetivo? Segundo, quem realmente conhece a própria alma? Ninguém.
Num encontro de duas horas, por melhor que seja, ninguém vai revelar a alma a alguém. Isso é uma tentativa falha de justificar a fotografia como algo com conteúdo expressivo comparável a outras artes. Eu não estou revelando a essência de ninguém, estou lidando com a superfície, e isso já é muito.
O POVO - Hoje, com a proliferação de celulares e câmeras, muitos se consideram fotógrafos. O que alguém precisa ter para ser, de fato, um fotógrafo?
Bob - De jeito nenhum é só ter uma câmera. O que faz um fotógrafo é o seu discurso, não só o literal, mas o imagético também. Um fotógrafo precisa das mesmas coisas que um escritor precisa: ideias, estilo, um pacto com alguma audiência, um ritual, técnica e uma história para contar.
O POVO - Aos 71 anos, como você enxerga a passagem do tempo? Existe algum plano de parar de produzir?
Bob - Cansa trabalhar, mas não me vejo parando. Acho que sempre vou estar fazendo algo. Às vezes, vou estar reconectando minhas imagens, fazendo novas edições, publicando outras coisas, dando mais palestras do que fotografando. As pessoas podem parar comigo, existe essa possibilidade de não me quererem mais. Mas enquanto alguém quiser meu trabalho, eu tiver saúde, ideias e essa possibilidade, eu vou em frente.
O POVO - Você tem assistentes jovens e viaja o Brasil dando workshops, em contato com uma nova geração que te admira. Como isso te alimenta?
Bob - No meu último trabalho, "Exteriores", boa parte da curadoria foi feita por uma menina muito jovem. Isso me renova, porque são outras ideias. Quando eu era jovem também, empurrei os velhos pra fora do mercado, não deliberadamente, mas pela minha existência. Acho natural isso, não vejo com rancor, mas como um curso da vida.
Eu me mantenho de pé porque invento, tenho uma experiência que me permite tomar decisões muito rápidas, baseadas no repertório e nas vivências anteriores. Mas isso não garante tudo. Existe um espírito da época, essa coisa comportamental ligada à moda, por exemplo, que apenas um jovem pode captar.
Hoje em dia, eu sou um clássico. Se você quer algo clássico, você chama o Bob. Mas se quer algo novo, fresco, que está acontecendo no mundo, é um jovem que vai te oferecer.
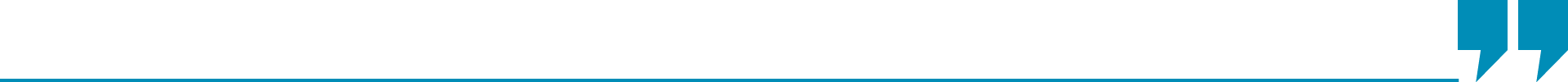
O POVO - Tanto em relação ao que foi produzido no passado quanto ao que é feito hoje, como você analisa a fotografia feita no Ceará?
Bob - Meu primeiro chefe foi um cearense, o Chico Albuquerque. Trabalhei com ele no estúdio da Editora Abril. Era engraçado porque, quando entrei lá, eu era muito menino, tinha 16 anos. Depois que fiquei conhecido, ele foi me visitar uma vez e, com aquele sotaque forte, falou: "Mas rapaz, você só fazia atrapalhar, e agora tá aqui, esse cara, esse nomão!" E eu disse: "Seu Chico, a gente deu um truque, tô enganando um monte de gente aí, deu certo." (risos)
Na atualidade, o Tiago Santana é fabuloso. Tem um trabalho lindo, íntegro. Mas confesso conhecer mais artistas cearenses do que fotógrafos. Sou um pouco ignorante, conheço aqueles que vão pra São Paulo. Admiro muito o trabalho de Leonilson e do escultor Luiz Hermano.
O POVO - Você tem trabalhos que fogem dos retratos, como "Antifachada", "Caminho do Mar" e "Belvedere". Como eles modificaram seu olhar sobre a fotografia urbana?
Bob - Na verdade, eles não vieram à toa. Por exemplo, "Antifachada" nasceu de um lugar onde eu morava, no bairro Bom Retiro, que era amassado, digamos assim. Eu morava no primeiro andar, tinha um poste na frente do meu quarto com um transformador, e atrás uma paisagem muito rarefeita, sem verde, uma coisa cinza. Parecia um pouco a Alemanha Oriental.

Fui criado dentro dessa visualidade, com um transformador na frente, que "transformava tudo em dor", de certa forma, sempre se interpondo entre eu e o horizonte. Então era uma "antifachada". Um dia, eu estava andando pela rua, fui comprar umas lâmpadas na Santa Virgínia, e uma luz oblíqua bateu naqueles prédios, numa situação parecida. Até então, só fotografava gente, mas resolvi fazer um trabalho sobre isso. E foi um baita sucesso, muito importante.
Depois disso, todos os meus trabalhos passaram a ter essa coisa meio evocativa da infância. O "Caminho do Mar", por exemplo, era o lugar onde eu passava as férias. Era o divisor de águas, o marco simbólico da passagem do lazer para a obrigação, e vice-versa. Quando eu ia, era do dever pro lazer; quando eu voltava, era do lazer pro dever. Cubatão, aquele lugar onde eu passava as férias, tinha algo ao mesmo tempo atrativo e aterrador.
Eu vivia nessa dualidade, entre a atração e o medo daquele lugar. Então quis transformar esse sentimento em imagem. Não foram formulações conscientes. Claro, depois que você pensa, se torna uma formulação. Depois que realiza, você se pergunta: "Por que isso me interessou? Por que foi importante?"
Aí você faz essa leitura de como as vivências da infância, juventude e adolescência impregnaram o meu trabalho. É o que deve acontecer com todo artista.

Inversão de papéis
Após a entrevista, ao tirar algumas fotos finais, Bob inverteu os papéis. A pedido do fotógrafo do O POVO, Aurélio Alves, Bob foi para trás da câmera e comandou um miniensaio com quem antes estava lhe fotografando.
Sub/Emerso
Cerca de 80% do acervo de Bob foi danificado nas enchentes do Rio Pinheiros, que atingiram seu antigo estúdio na Vila Leopoldina, em São Paulo, em 2020. Desse episódio surgiu a exposição “Sub/Emerso”, em que o fotógrafo transformou as marcas de água e escorrimentos em parte da narrativa visual de 30 imagens selecionadas.
Retratos na Caucaia
Desde setembro, o Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, recebe a mostra “Retratos”, do fotógrafo. Em cartaz até 28 de novembro e com entrada gratuita, a exposição chega ao município em uma iniciativa conjunta do Museu da Fotografia Fortaleza e do Instituto Myra Eliane.
Grandes entrevistas


