
Nada escapa do olhar de Silvia Moura. Ao sentar em uma cadeira da plateia do Teatro São José, no Centro de Fortaleza, observa pendências a serem resolvidas. Riscos nas cadeiras, lâmpadas queimadas, itens em falta: tudo é abarcado em sua análise atenta. O desejo é de mudanças, e ele surge da inquietação.
Esse sentimento não veio somente agora, sendo desde agosto a gestora dos teatros Antonieta Noronha e São José, importantes espaços para as artes cênicas de Fortaleza. Bailarina, atriz, coreógrafa e diretora, a cearense é tomada pela necessidade de movimentos desde a infância - seja em direção a mudanças, seja para a dança.

“Um teatro não pode servir só para reunião. Eu quero que esses teatros sejam como um pulmão da cidade. Um lugar de respirar”, destaca a profissional como um de seus objetivos enquanto gestora. A compreensão dialoga com toda a sua trajetória. Dos 60 anos de vida, 50 têm sido dedicados às artes e à cultura, com importantes contribuições para as artes cênicas cearenses.
Membro do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Silvia Moura é reconhecida como uma das principais representantes da cena da Dança no Ceará. Seus espetáculos carregam forte atuação em pautas sociais e políticas.
Foi presidente da Federação de Teatro Amador do Ceará. Formada em Teatro pela Curso de Arte Dramática. Deu aulas para população carcerária. Um de seus espetáculos mais emblemáticos, “A Cadeirinha e Eu”, retrata etapas do percurso de vida de uma mulher, da infância à morte.
Ao O POVO, Silvia Moura revisita sua trajetória artística, como a dança pode agir como ferramenta de transformação social, as dificuldades de se manter como artista e a importância de encarar o teatro como um espaço também para a saúde.
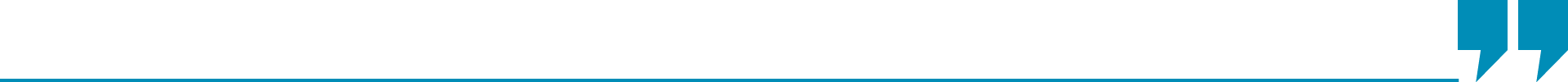
O POVO - Como se descobriu enquanto artista? O que houve na sua infância para levá-la à dança?
Silvia - Na minha infância, na década de 1960, era muito comum as escolas oferecerem teatro, dança, violão, judô, karatê, capoeira, além de artes plásticas, como desenho, pintura e trabalhos manuais. Eram atividades vistas como complemento da educação.
Era normal: as meninas geralmente iam para a dança, os meninos para o karatê, e também havia aulas de línguas. Comecei assim, sem ter uma referência direta em casa. Minha mãe era costureira (faleceu em 2020) e meu pai trabalhava com eletrotécnica. Eram pessoas comuns, não havia artistas na família.
Descobrimos mais tarde que minha avó escrevia, mas fazia isso escondido, porque meu avô era muito autoritário e não permitia. Só depois da morte dele ficamos sabendo, por isso escrevo também desde criança. Eu não tinha muito contato com minha avó. Cresci em uma família simples, não extremamente pobre, mas sem grandes recursos.

Morávamos na periferia e não tínhamos acesso a muitas coisas — até porque naquela época não se tinha acesso a quase nada. Havia muito controle na ditadura, principalmente porque o país vivia sob a ditadura, com muito controle. Comecei de forma simples, como todo mundo, só que cedo na escola tive a tendência a organizar as pessoas em torno de algo.
Fui presidente do grêmio estudantil — a primeira mulher a ocupar esse cargo na minha escola, o que, na época, era algo incrível. Para se ter ideia, a próxima presidente foi a hoje deputada federal Luizianne Lins (PT). Eram tempos muito rígidos, no qual as mulheres tinham poucos direitos, e as meninas ainda menos.
Como presidente, organizei atividades artísticas com os alunos que participavam das oficinas da escola. Todas as terças-feiras, fazíamos apresentações: criávamos roteiros, improvisávamos e montávamos espetáculos. Eu nem sabia ainda o que era aquilo, porque nada chegava até a gente, o que chegava até era basicamente pela televisão e ainda sem muitos recursos.
Por volta dos 10 ou 11 anos, tive uma professora chamada Ana Virgínia Valente, que havia sido a primeira bailarina da turma do Hugo Bianchi. Ela decidiu abrir uma academia de dança. Naquele tempo, as academias eram raras e localizadas, em sua maioria, na Aldeota, para gente rica. Eram caras. A da Ana Virgínia era na avenida Jovita Feitosa, que na época ainda era de rico, mas um pouco menos.
Quando soube, falei para minha mãe que queria estudar lá. Ela respondeu que não, que não fazia sentido. E talvez realmente não fizesse: para ela, aquilo era só um complemento. Ia ser complicado, porque eu teria que pegar ônibus ou alguém teria que me levar, porque eu era muito jovem. Foi muita coisa para ela.
Só que fui criada de forma muito diferente do normal daquela época. Minha mãe não costumava proibir nada. Ela dizia: “Eu não vou fazer. Se você quiser, vá.” Uma criança de 10 ou 11 anos desistiria. Mas eu não era qualquer criança. Eu disse: “Tá bom.” E fui me resolver. Montei todo um esquema para ir para a academia. Ela não me dizia “não”; só dificultava as coisas.

O POVO - Talvez quisesse saber até onde você iria?
Silvia - Não sei, nunca consegui perguntar isso diretamente para ela. Acho que não. Acho que ela não contava que eu fosse. Sempre acreditava que o “não” já seria suficiente, sabe? Mas foi aí que comecei todo um processo que, acredito, deu origem à Silvia que sou hoje.
Conto essa história porque, se você for pensar em mim agora, é interessante saber como isso foi construído. Sou uma pessoa que sempre esteve envolvida em processos coletivos, com muita gente, muitas coisas acontecendo. Comecei a sedimentar quem eu viria a ser.

Organizei um esquema com os colegas da sala: meus amigos ou compravam a merenda para mim, ou dividiam comigo, porque eu juntava o dinheiro da minha própria merenda para pagar a academia. Eu não merendava; guardava todo o dinheiro. Nos dias em que ninguém podia comprar para mim, eu ficava com fome a manhã inteira.
Outra coisa que fazia, naquela época em que não existiam aulas de reforço escolar formais, era ajudar os meninos e meninas da rua com as tarefas. Também pintava panos de prato para vender, porque as aulas eram caras.
Era um dinheiro que para mim, enquanto criança, e acho que para minha mãe também, porque não tínhamos muitas condições, era muito. Naquela época tudo era caro. Eu precisava pegar dois ônibus para ir e dois para voltar, já que não existiam terminais.
Fiquei bastante tempo nessa rotina, fazendo aulas. Mais ou menos com 13 ou 14 anos, comecei o balé clássico. Não havia muitas opções. Eram danças folclóricas e balé clássico. Só. No final dos anos 1960, aos poucos, surgiu o que depois chamaram de jazz, uma dança mais alegre, viva e movimentada.
Veio uma professora que tinha estudado nos Estados Unidos e deu aula na escola. Comecei a fazer jazz também. Eu fazia balé clássico e jazz, e fazia muitas aulas. Gostava de todas. Essa professora era a Vanessa Dolores, que acabou abrindo uma academia na Avenida João Pessoa, um pouco mais acessível.
Passei a fazer aulas todos os dias, em todos os horários possíveis, porque realmente me identifiquei. A aula era mais alegre, mais vigorosa, combinava mais comigo. Eu gostava de dançar, mas não o balé clássico. Só que era o que tinha.
A Vanessa dava aulas de manhã à noite, todos os dias, e era muito puxado. Ela começou a me pedir ajuda para encerrar e iniciar aulas por ela, e eu fazia isso com frequência. Ao final de um ano, ela me disse que me daria uma turma para lecionar, aos 15 anos.
Eu respondi: “Não, não quero dar aula. Quero só dançar.” Mas ela insistiu: “Você vai dar aula. Vai pegar uma turma e eu vou acompanhar você.” Aceitei, e comecei a dar aulas aos 15 anos, ganhando meu próprio dinheiro. Não era muito, mas era meu.
Já não precisava de tantos sacrifícios para pagar as passagens. Eu não podia pedir nada à minha mãe, porque ela nunca quis que eu seguisse esse caminho. Então eu tinha que ter todas as condições.

O POVO - Qual foi a reação dela ao perceber que estava conseguindo ir adiante?
Silvia - Ela nem tocava no assunto. Era como se não existisse. Única questão era que eu não podia tirar notas baixas nem ficar de recuperação. Tínhamos esse acordo. Se a dança não atrapalhasse, tudo bem. Mas não conversávamos sobre isso.
Minha mãe só me viu dançando pequena, enquanto eu estava na escola, porque ela ia para os festivais. Acho que não enxergava a dança como profissão, já que não tinha nenhum contato com essa realidade. Continuei dando aulas com a Vanessa e depois em outras escolas.
Aos 15, 16 anos, meus pais se separaram. Foi um período muito difícil - nossa vida mudou muito, e para pior. Financeiramente, pesou para minha mãe. Tivemos que vender a casa e mudar para mais longe. Nossa convivência ficou muito difícil, brigávamos muito.
Aos 18 anos, decidi sair de casa. Não dava mais. Fui morar sozinha em uma época em que isso não era comum, e sem nenhuma ajuda. Consegui alugar um lugar bem simples, numa vila. Era muito ruim, e durante muito tempo eu não tive nada, nem cama. Mas, mesmo assim, me sentia melhor, porque não havia brigas.
Boa parte da minha vida fiquei dando aulas. Com 19 anos, entrei no meu primeiro grupo independente de dança. Era início da década de 80, quando começaram a surgir grupos que não estavam ligados às academias. Fiz minha primeira audição e fui aprovada. Comecei a trabalhar com a Dora Andrade.
Na época, não existia ainda a Edisca, era apenas o grupo dela. Ali, tive contato com outros grupos independentes: o Tablado, o da Janne Ruth, da Vera Passos… Foi nessa época que conheci uma dança diferente da que eu praticava: uma dança que exigia entendimento sobre o que você estava fazendo, não era apenas decorar a movimentação.
Eu sentia que faltava algo que eu não sabia explicar. Então, comecei a estudar teatro, entre os 18 e 19 anos. Fiz aulas no Centro de Arte Dramática (CAD). Foi aí que entendi o que faltava na dança: sentido. Um propósito. Algo que comunicasse com as pessoas além do movimento.
No grupo da Dora encontrei a família que eu não tinha. Éramos muitas mulheres, poucos homens. Eu passava a semana dando aulas e os fins de semana ensaiando. Minha vida era isso. O teatro também me trouxe aquilo que eu sentia falta na dança: uma relação com o todo, com o que acontecia ao redor, com as causas, com a sociedade.

O teatro tinha uma forma de envolvimento que a dança, até então, não tinha. A dança tem um aspecto mais técnico, mas também estético. Já no teatro, comecei a encontrar pessoas que não via na dança, como Gracinha Soares, que na época era uma liderança. Ela morreu muito cedo, foi presidente da Federação e também diretora do Teatro Universitário por muitos anos.
Foi a primeira mulher que vi falando politicamente. Eu olhava para ela e pensava: “Quero ser assim”. A partir daí, comecei a me envolver politicamente com as coisas, com a Federação de Teatro Amador. Então, tive contato com outras pessoas e com outro tipo de fazer arte.
A partir daí, não teve mais volta: entrei na Federação, logo depois fui presidente dela e participei de um processo importante, que foi a interiorização do movimento de teatro. Íamos às cidades para conversar sobre articulação política. Isso já era nos anos 70, quando as coisas começavam a mudar um pouco e já se podia falar politicamente com mais abertura.
Íamos para a porta de fábricas entregar panfletos, conversar com os trabalhadores, dialogar. De vez em quando, levávamos “carreira” da polícia. Lembro que, muitas vezes, fazíamos isso no centro da cidade e precisávamos nos esconder na Praça da Estação.
Foi nesse contexto que me envolvi na organização política da classe artística. Comecei nesse movimento, mas a dança continuava sendo a minha base.
O POVO - Interessante você mencionar o teatro, porque, embora multiartista, muitas vezes as referências sobre você caem mais para o lado da dança. Queria saber como você entende o teatro na sua atuação artística.

Silvia - Na verdade, as pessoas têm essa impressão em relação à dança porque você tem que fazer uma escolha de militância. Quando comecei a fazer teatro, logo em seguida passei a criar. O teatro me mostrou que eu era explorada. Eu não tinha ideia disso.
Eu dava aulas da manhã à noite, os donos das academias ficavam ricos com o meu trabalho e eu recebia muito pouco. Não tinha consciência disso. Eu vinha de uma família na qual as pessoas trabalhavam muito e ganhavam pouco. Minha mãe sempre trabalhou de sol a sol e recebia pouco. Meu pai também. Eu não tinha noção dessa exploração.
Foi o teatro que me deu essa consciência, me colocou para pensar sobre isso, fazer comparações, começar a entender sobre o capitalismo e o que era essa exploração no mundo do trabalho. Isso me incomodou. Naquela época, eu ganhava pouco e tinha que fazer tudo com esse dinheiro, porque não tinha ninguém que me ajudasse.
Para ter ideia, passava um ano inteiro com uma única sandália de plástico. Ia para todo lugar com ela: dava aulas, saía, vivia com aquele par. Enquanto isso, meus alunos tinham motorista particular para levá-los às aulas. Isso me incomodava muito. Eu me perguntava: “E as pessoas como eu, onde dançam?”. Na verdade, quase não havia. A maioria era de pessoas ricas.
Eu comecei a ver pessoas do mesmo jeito que eu dançando na Dora Andrade - que era um grupo, não era academia, não pagávamos para fazer aula com ela. Trabalhávamos juntos, montávamos espetáculos e dançávamos, mas quase nunca recebíamos cachê. Às vezes tínhamos ajuda de custo, com transporte ou alimentação.
Foi nesse contexto, trabalhando com Dora Andrade, que comecei a ser estimulada a criar de verdade. Nas academias, eu também criava, mas não assinava meu trabalho. Era mais uma forma de exploração. Com a relação com o teatro veio uma dança mais pensada, política.

O primeiro balé que dancei com ela foi sobre as Mães da Praça de Maio, algo muito forte. Lembro que dancei o espetáculo inteiro chorando. Chorava do começo ao fim. Isso despertou em mim o desejo de criar.
Em 1988, decidi sair das academias onde dava aula. Estava muito incomodada. No fim do ano, as donas das academias viajavam para a Europa, trocavam de carro, enquanto nós não tínhamos férias, nem 13º, e ainda ficávamos meses sem receber. Eu queria encontrar outra forma de dar aula, em outros espaços, para outras pessoas.
Nesse mesmo ano, engravidei. Entreguei todas as minhas turmas e decidi esperar até o fim do ano para ver o que faria a seguir. Foi também quando fui chamada para fazer a preparação do elenco de “Não Verás País Nenhum”, espetáculo que foi um divisor de águas no teatro cearense. Foi a primeira vez em que se falou de performance relacionada à dança por aqui.
Era um espetáculo muito performático, com cenas impactantes, e baseado no livro de Inácio de Loyola Brandão. Ali tive contato com os melhores atores e atrizes do Ceará na época. Foi intenso e transformador. Costumo dizer que 1988 foi um ano de mudanças radicais no Ceará. Foi o ano da reforma do Theatro José de Alencar, que estava em ruínas.
Leia mais
Retiraram tudo que havia lá dentro e transformaram o espaço no teatro que conhecemos hoje. Pela primeira vez, tivemos acesso de fato ao teatro. Recebi a sugestão de fazer um curso de dança para atores. A experiência foi incrível, juntando dança e teatro de forma inédita. Muita gente se inscreveu. Foi bem legal.
Foram oito meses de curso e no final fizemos o espetáculo “Em Crise”. Fomos para o Festival de Teatro Amador e ganhamos todos os prêmios. Nessa época percebi que eu não criava dança ou teatro separadamente: eu criava tudo junto. Desde então, nunca mais consegui separar.
Para mim, dança e teatro sempre caminham juntos. Só que, para a militância e para se inscrever em editais, você precisa ter linguagem. Então, como finquei minha bandeira na dança, as pessoas me veem como dança, mas o engraçado é que a dança não me viu como dança por muito tempo, e o teatro não me via como teatro. Era sempre jogada de um lado para o outro.

Para mim, esse detalhe não tinha a menor importâcia. Depois chegou a dança contemporânea, que permite tudo isso, com profissionais que faziam dança-teatro e começavam a criar uma linguagem específica.
Tratavam meu trabalho com descrédito, como se fosse uma fase que passaria. Mas era a minha poética. Era a forma como minha trajetória se juntava e se expressava no mundo. Queria uma dança que repercutisse na vida e não fosse só uma alegoria. Queria que tocasse as pessoas e fosse transformadora.

O POVO - Que ferramentas de transformação podem ser vistas a partir da dança?
Silvia - A maior ferramenta de transformação que percebo na dança e no teatro é o fato de que eles nos colocam diante de nós mesmos. Passamos a nos observar, nos compreender e nos relacionar de outra forma com o outro e com o mundo.
As artes, de maneira geral, trazem essa perspectiva de você analisar, observar, criticar, entender e principalmente de você se colocar diante da vida. Eu diria que é um elemento de fortalecimento da personalidade, das relações humanas, com o espaço, com a saúde e com o entendimento de quem você é na malha social.

Uma pessoa sem consciência de si, quando dança ou faz teatro, começa a se perceber, a se ligar à natureza e à vida em sua totalidade. É como abrir um canal direto com tudo que significa a vida — no aspecto religioso, artístico, intelectual e emocional. Isso é profundamente transformador, porque você começa a tratar de coisas que antes não tratava. Por exemplo, dei aula na cadeia por muitos anos.
Foi uma experiência muito forte e mudei muito a partir dessa experiência. Participei de um projeto da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Justiça, levando teatro e dança para penitenciárias, em um período em que o índice de pessoas com HIV era altíssimo.
A partir disso, criaram um projeto para levarmos aulas de teatro — e eu ministrava aulas de teatro e dança. Havia uma equipe formada por profissionais de saúde e professores. Trabalhávamos juntos. Fazíamos prevenção, um trabalho de saúde e também artístico. Transformávamos isso em espetáculos.
Fizemos vídeos, espetáculos, escrevemos livros, criamos muita coisa. Era uma equipe grande, porque no início atuávamos em quatro presídios. Quando entrei, aquela minha ideia de que a arte não chegava a todos se materializou. Realmente não chegava. Essas pessoas nunca tinham visto dança, nunca tinham visto teatro.
Então começamos a levar espetáculos para dentro da cadeia. Até que conseguimos montar um espetáculo e levar os detentos para se apresentarem em um teatro, pela primeira vez na história do Ceará. Na época, houve um contingente de mais de 200 policiais para acompanhar a saída deles.
Parecia cena de filme americano: policiais em todos os cantos do teatro, armados. Se algo desse errado, seria um escândalo para a secretaria. Nada podia dar errado. E foi incrível. Eles se apresentaram e conseguimos levar as famílias da maioria.

Houve algo muito especial: enquanto eles se apresentavam, os policiais, armados com aqueles rifles enormes, começaram a assistir. Aos poucos, deixaram de agir como policiais. Pela primeira vez na história da cadeia, todos comeram juntos: policiais, agentes, presos e familiares.
Isso era impensável, pois sempre havia o medo de envenenamento. Naquela época as condições eram muito ruins. Hoje estão melhores em alguns aspectos, mas antes era precário. Quando o projeto terminou, eu não consegui me desligar e continuei.
Até que, com a mudança de governador, as atividades artísticas foram proibidas nas penitenciárias, sob a justificativa de que aquele não era lugar para isso.. Foi muito difícil, porque eu estava completamente envolvida com a realidade da cadeia.
Nesse período, montei cinco espetáculos com essa temática. Ao trabalhar com pessoas na cadeia, percebi algo claro: elas vinham dos mesmos lugares das pessoas que trabalhavam comigo fora da prisão. A diferença é que aquelas que estavam presas nunca tinham tido contato com algo que lhes desse a chance de tentar outra vida. Já as que estavam fora tiveram essa oportunidade. Essa era a única diferença.
O POVO - Há dez anos, em entrevista ao Vida&Arte, você disse que faltava avançar na circulação dos trabalhos e no aumento do mercado de trabalho. Como observa esse cenário atualmente?
Silvia - Continua igual. Para você ter ideia, só temos um projeto de circulação nacional, que é o Palco Giratório, do Sesc. Normalmente, um grupo passa uma vez, no máximo duas. É a única chance de uma circulação nacional real. Em 2017, participei e fiz 43 cidades.

No âmbito estadual, tivemos o Circula Ceará, iniciado em 2015, mas só executado em 2019. Em 2020 parou, voltou em 2022 e não sei se continuará. Era um projeto em que nos inscrevemos para nos apresentarmos em várias cidades do Ceará.
Em Fortaleza não existe circulação. Não temos como ficar em cartaz. É necessário ter apoio institucional. No interior, os teatros ou estão fechados, ou inexistem. O Palco Giratório é do Sesc, não do Estado nem da Funarte.
Às vezes há editais com modalidade de circulação, mas que contemplam só duas ou três cidades. Mas não é contínuo. Há 20 anos falamos disso: não existem espaços para ficar em cartaz. Para estrear um espetáculo, esperei de maio a setembro por uma pauta.
Consegui quatro quintas em setembro, mas depois não tenho mais nada. Como sobrevive? Os ingressos são baratos e o público pequeno. As pessoas não estão acostumadas a pagar, já que quase tudo é gratuito.
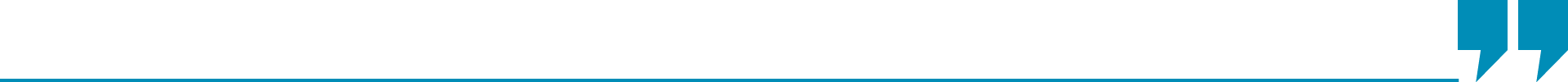
O POVO - Como pode ser trabalhada a formação de plateia?
Silvia - Quanto à formação de plateia, eu acho que é possível, mas exige continuidade. Já avançamos nisso, mas a descontinuidade de ações prejudica todo o trabalho feito antes. No início dos anos 2000, criamos o Quinta com Dança. Era lotado. Hoje, tem cinco, sete pessoas.
Com a força da internet, perdemos muito na divulgação nos últimos dez anos. Você coloca no Instagram. Quem viu, viu. Ter visualização na internet não significa público. A mídia, os jornais, deixaram de ser aliados. E há excesso de oferta de eventos na cidade.
Por um lado é bom, mas também pode ser ruim, porque é o mesmo público. Não foi trabalhado outro público. Acho que teria que ter um trabalho direcionado com as escolas, com as crianças, adolescentes e adultos nas universidades.
Você não tem estímulo para ver. Muita gente fica sabendo depois que o espetáculo passa, por causa das fotos. Recentemente, uma foto do meu espetáculo foi curtida até pela Panasonic — mas no dia havia só sete pessoas no público. Foi incrível, mas não tinha ninguém.
O POVO - Imagino que, ao longo da sua carreira, alguns anos tenham sido bem desafiadores, mas talvez os principais tenham sido na pandemia. Como foi para você transformar sua arte em outros formatos e passar por esse período?
Silvia - Para mim foi bem difícil, porque eu não sou uma pessoa da internet. Fui ter Instagram na pandemia, não tinha antes. Sou uma pessoa lenta para essas coisas. Eu não gosto tanto, não é muito a minha vontade estar lá, não tenho muito essa coisa da internet. Mas, na pandemia, tive que ter porque não havia outra saída.

Eu acho que fui a última pessoa a fazer espetáculo. Ainda cheguei a adaptar, fazer em casa uns cinco trabalhos. Fiz “A Cadeirinha e Eu”, fiz “A Anatomia das Coisas Encalhadas”, trabalhei “À Beira De…”, criei um trabalho novo, que é “Raios e Trovões”, na época da pandemia, que estreou na internet e depois adaptei para o palco. Consegui adaptar.
Eu não gostava do resultado. Eu achava um remendo, sabe? Achava muito ruim. Mas fazia porque não tinha como. Primeiro porque durou muito tempo, e eu nunca fiquei tanto tempo sem me apresentar e em casa sem poder fazer nada. E também foi o período em que começou essa coisa das divulgações pela internet.
Eu acho que a pandemia foi esse corte, que tirou os outros meios de divulgação e estabeleceu a internet como o único meio de divulgar qualquer coisa. Quem consegue lidar bem com isso, trabalhar dentro disso, consegue se dar bem. Quem não consegue acaba ficando sem visibilidade.
O POVO - Em 2024, a Bienal Internacional de Dança do Ceará foi pautada pelo etarismo na dança. Em uma matéria publicada no Vida&Arte, você falou como a idade começou a pesar quando completou 50 anos pelo fato de pessoas soltarem piadas sobre ainda estar nos palcos. Por que, na sua avaliação, existe essa barreira de aceitação externa na dança para quem é mais velho? Como mudar isso?
Silvia - Olha, tem duas coisas. A dança contemporânea tem uma facilidade, que é permitir que você continue dançando com qualquer corpo. Tanto é que hoje eu tenho um trabalho, já tem acho que três anos, que venho desenvolvendo com pessoas idosas.
E, há alguns anos, eu tive, na época do Centro de Experimentações em Movimentos (CEM), o Cem Mais de 30, que eram pessoas com mais de 50 anos que sempre sonharam em dançar e nunca puderam. Então tivemos, por muito tempo, um grupo de pessoas mais velhas junto com os mais novos, misturados. Ainda chegamos a montar três trabalhos com eles.

Comecei dando um curso na Caixa para pessoas mais velhas, depois dei dois cursos de performance com a Imaginários, que é uma plataforma de performance, para pessoas mais velhas, com apresentação no final. E agora conseguimos aprovar um projeto no Conselho para artistas longevos e pessoas de mais idade que quisessem fazer parte.
Foi o primeiro edital, o edital passado, que teve especificamente para pessoas de mais de 60 anos. Eu e um amigo escrevemos um projeto e estamos concluindo, que é “Teatro e Vida – Escutas do Tempo”, que é o nome do projeto que eu uso para os idosos. É só para pessoas acima de 60 anos.
Algumas nunca fizeram aula de dança na vida, nem de teatro, e outras já fizeram aula comigo e sempre aparecem quando vou dar aula. Porque não tem outro lugar. Tem poucos, e às vezes, quando tem, é pago e caro. Então, a dança contemporânea tem essa vantagem de ajudar nisso, assim como o teatro.
Só que, no teatro, os papéis para pessoas mais velhas são cada vez menores. Não é a peça inteira, entende? Você tem pequenas participações. Na dança contemporânea você pode dançar o espetáculo inteiro de acordo com o seu corpo, como você pode.
Então, há mais de 10 anos eu venho pensando nisso: como adaptar ou como fazer uma dança que caiba no meu corpo hoje, que já tenho 60 anos. Eu começo a sentir algumas diferenças, principalmente porque, da pandemia para cá, não estou mais dando aula como antes. Eu dava aula todo dia, e não dou mais.
Não tem espaço para dar aula. A Artelaria fechou. Os locais públicos não têm mais espaço. Eu dava aula, oficinas, residências no José de Alencar. Não tem mais. Parou na pandemia e nunca mais voltou. Então, a dificuldade de espaço para dar aula, mesmo que gratuita, é enorme, porque tem muita gente querendo fazer muita coisa e poucos espaços.
Mesmo agora, que vai abrir o São José, o Antonieta e o Carlos Câmara — três teatros que estavam parados — e que estão sendo colocados à disposição, pelo menos para ensaios, aulas e essas coisas, espero que desafoguem isso. Porque não temos lugar. Não existe lugar. É uma dificuldade enorme.
Os grupos que não têm sede, as pessoas que não têm espaço... Então, alia-se a questão da idade com a falta de espaço e a dificuldade de manter atividades. Acho que isso tudo somado também se reflete no público. A queda do Dragão do Mar, a diminuição das atividades lá, refletiu no meio artístico como uma bomba.
O público tinha o Dragão do Mar como referência. Alguns anos atrás, as pessoas saíam de casa e iam direto para lá, sem nem querer saber o que ia ter, porque sabiam que haveria alguma coisa. Isso se quebrou. Parou. E aí, o que aconteceu? O público parou de ir. E o que era forte no Dragão do Mar? Teatro, dança, espetáculos. Atividades assim.

E esse não é o mesmo público da Pinacoteca, nem o da Estação das Artes, que são espaços novos, mas com outra perspectiva. Formam outro tipo de público: para shows, para atividades de multidão. Não é aquela atividade mais cotidiana, que é o espetáculo, que você sai para ver com 50, 100, 200 pessoas. Na Estação das Artes, o público é de mil, duas mil pessoas. É outro público, né? E é um público, digamos, menos exigente.
O POVO - Em janeiro de 2023, foi publicado no O POVO um artigo de opinião seu intitulado “avançar sempre - retroceder, jamais”, no contexto de mudança de governos a níveis federal e estadual. Na ocasião, você mencionou necessidades urgentes para a cultura, como ampliação de valores de investimento e atualização de cachês para artistas. Como analisa a atuação do governo estadual e federal nas demandas da Cultura? O que precisa ser melhorado, em sua avaliação?
Silvia - Olha, a gente ainda tem, a partir da pandemia, uma disparidade de cachês. Na pandemia os cachês foram reduzidos para metade do valor e a maioria ainda não conseguiu voltar ao normal nem ser reajustada de forma equilibrada.
Talvez um valor real de cachê de espetáculo devesse ser de R$ 5 mil a R$ 7 mil, que são valores de outros lugares. Não tem ninguém pagando esse valor. As pessoas precisam entender que cachê não é salário. Você recebe uma vez no ano todo. Só que você tem que manter o seu trabalho vivo o ano todo.
O cachê não vai só para o artista. Ele tem que ir para o técnico, para o transporte, para a manutenção do espetáculo. O que sobra é que é do artista. Só que o artista trabalha para o espetáculo antes e depois do espetáculo, é ele quem monta, é ele quem desmonta.
Você ganhar um cachê não banca o seu mês inteiro. E a gente vive o tempo todo tentando fazer uma matemática que solucione a vida, que pague aluguel, comida, remédio, água, luz, telefone, todas as contas, transporte, tudo mais. Para viver bem, com dignidade, um grupo pequeno teria que fazer pelo menos três ou quatro espetáculos, no mínimo.

No meu caso, eu trabalho sozinha hoje. Eu deveria ter um produtor, uma pessoa de comunicação e uma pessoa de técnica, pelo menos, para trabalhar bem. Eu não tenho nada disso hoje. E é péssimo, porque não consigo atrair público. Então, não tem gente, não tem bilheteria, eu estou indo só para divulgar o trabalho.
A gente não tem como sobreviver de bilheteria, porque não é suficiente para sobreviver. E isso é péssimo, porque eu fico dependendo de o governo me contratar, de o governo me chamar, de passar em um edital de ocupação. Eu não me inscrevi em nenhum agora. Então, como artista, não sei qual vai ser o meu destino.
Ainda bem que o ano não está terminando, né? Porque vai começar tudo de novo. Mas eu não tenho previsão. Por exemplo, acho que me apresento mais este ano na Bienal, com esse trabalho que é novo, já está na Bienal. Não tenho previsão nenhuma de outra coisa, entende?

Então, assim, se eu não tivesse começado esse trabalho, eu estaria como no ano passado, no ano retrasado, sem saber como viver. E eu tenho 50 anos disso. Não deveria ser assim. Eu deveria ter condições de viver do meu trabalho, tendo em vista que dediquei minha vida inteira a isso.
Então, é muito difícil, por exemplo, você dar aula para pessoas jovens e convencê-las de que elas vão sobreviver disso. Porque eu não consigo sobreviver. Se você me perguntar como é que eu cheguei até aqui, hoje, eu não faço a menor ideia.
Eu vendo colar de crochê, eu vendo bolo, eu faço milhões de coisas para poder sobreviver. Isso não deveria ser assim. E eu considero meu trabalho muito bom. Não preciso que ninguém me diga que é bom. Eu sei que é bom. E sei que ele não é comercial.
Mas como é que um trabalho que é bom e não é comercial sobrevive dentro de uma estrutura que é pautada apenas pelas atividades comerciais?
O POVO - Em agosto, você assumiu a gestão do Antonieta Noronha e do São José. Quais são os desafios que você vê pela frente? E como tem sido até agora a experiência?
Silvia - O maior desafio é que existe a urgência da vida, que é onde nós estamos inseridos. A urgência da sobrevivência do artista. Ela é real, está aqui, nesse campo. Então, nós precisamos que as coisas sejam feitas ontem, agora, já, imediatamente.
Existe o tempo da gestão, que é outro, que passam por três, quatro, cinco, seis mãos, quando poderia ser resolvido rapidamente. E também tem, além do tempo burocrático, o tempo financeiro da gestão, que é lento. Um recurso, para ser usado, passa por várias secretarias, até chegar na secretaria, até chegar no lugar onde vai ser exercitado aquele recurso.
Então, o meu maior desafio é achar um caminho do meio, que não é esse da urgência do hoje, do agora, do ontem. Você acabou de viver isso: chego no teatro, “olha, Silvia, queimaram duas lâmpadas”. Preciso de duas lâmpadas hoje. Com certeza, não vai ser comprado hoje. Quanto tempo eu vou levar para conseguir comprar as lâmpadas?
Enquanto isso, as únicas lâmpadas de serviço que nós temos estão queimadas. Como vou resolver isso? Como vou dar conta desses tempos tão diferentes e tão antagônicos, né? Porque o espetáculo vai ser usado, vai ter ensaio amanhã, e eu tenho que ter luz de serviço amanhã.
Como aconteceu, por exemplo, agora no festival: “Ah, eu preciso de quatro espelhos.” Não tem espelho no camarim. Como é que um camarim não tem espelho? Você vai receber um artista de fora, vários artistas de dentro, da casa, sem espelho para se maquiar. Aí eu fui atrás dos espelhos. “Não, não tem espelho, não foi comprado espelho.”
E a outra questão, dentro disso, é que o teatro é um instrumento vivo. O governo é um instrumento morto. Desculpa, essa é a minha impressão. Mas o tempo do teatro, o tempo de um equipamento de cultura, é completamente diferente do tempo do equipamento da justiça, do equipamento da administração.

Eu consideraria que um teatro está para um artista como um hospital está para um doente. O teatro tem que ter uma rapidez de resolução que um hospital tem que ter. Entende? A minha grande meta vai ser fazer com que a gestão entenda o teatro como um hospital. É um hospital para a alma. É um hospital para a vida, é um hospital para a alegria das pessoas. Sabe?
Porque você vê as pessoas saindo do teatro totalmente diferentes de como entraram. É um acontecimento na vida. Olha, por exemplo, a gente viveu agora no Festival de Teatro: foi decidido que a gente não ia levar os espetáculos para as escolas, mas que íamos pegar as crianças nas escolas e levá-las até o teatro.
É assustadora a alegria daquelas crianças ao entrar no teatro pela primeira vez, ganhar um lanche dentro do teatro, sair com uma pipoca para assistir ao espetáculo. Isso, na vida daquela criança, é absolutamente formador. Vai ficar como uma experiência que ela vai lembrar por muito tempo.
Então, esse equipamento, e os outros equipamentos, como os teatros do Cuca e todos os cinco teatros que a maioria estava com problemas — um fechado, outro com defeito — todos esses teatros que são públicos têm a importância de um postinho de saúde. Eles têm que ser elevados de importância.
Eles podem ser uma espécie de paliativo para as doenças sociais, sabe? Para solidão, para depressão, para ansiedade, para essas doenças todas que a gente está enfrentando hoje, que fazem parte da realidade do mundo. Esses equipamentos podem oferecer uma solução — não uma cura, mas um alívio — na vida das pessoas.

Ouvir boa música, ver um bom espetáculo, assistir a uma dança, vir ao teatro, sair de casa, fazer esse passeio: isso é saúde, tem que ser tratado como saúde. Os nossos teatros — eu tenho dito isso — eu quero, não sei quanto tempo vou ficar, não sei mesmo. Quero ficar tempo suficiente para fazer o que acredito ser a minha função: colocar esses dois teatros públicos na rota de vida da cidade de Fortaleza.
Que eles sejam lembrados e associados como um organismo vivo da cidade. O Antonieta, desde que foi inaugurado, ocupou o lugar dele por muito pouco tempo, depois virou um puxadinho da Secultfor, um lugar para fazer reunião. Um teatro não pode servir só para reunião. Eu quero que esses teatros sejam como um pulmão da cidade. Um lugar de respirar.

Em Carne Viva
Silvia Moura estreou na literatura em 2015, com a publicação do livro de poemas “Em Carne Viva” (editora Substânsia). A obra foi criada a partir de imagens propostas — como em um palco — para encenar a relação da elaboração do movimento e da cena partindo de metamorfoses, memórias e sensações. Ela estabelece conexões entre os sentimentos e os sentidos.
Filha e TJA
A ligação de Silvia Moura com os espaços artísticos ultrapassa os limites de seus trabalhos. Sua primeira filha nasceu nas imediações da Praça José de Alencar. Silvia estava ensaiando no palco do Theatro José de Alencar (TJA) quando sua bolsa estourou. Foi ao hospital e disseram que ela teria seu bebê, mas como não estava sentindo dor, voltou e fez o espetáculo, como lembrou ao O POVO em 2021.
Bolsa Vitae
Silvia Moura foi uma das últimas contempladas com o Bolsa Vitae de Artes, da fundação Vitae, em 2005. O programa concedia bolsas para projetos pessoais de criação ou pesquisa. Ela foi agraciada a partir da obra “Fala Corpo” e de seus trabalhos artísticos com população carcerária no período.
Grandes entrevistas


