A responsabilidade de salvar vidas mantém de pé. Mas o mesmo tempo em que gera forças, também causa exaustão e esgotamento. Por vezes, adoece. Profissionais da saúde atuam sem trégua há um ano, desde que, em 15 de março de 2020, foram confirmados os três primeiros casos de Covid-19 no Estado. O aumento de casos e mortes pela Covid-19 se agravou novamente de forma intensa a partir do início de 2021. Mais cansados e sobrecarregados, eles enfrentam uma segunda onda mais forte do que a primeira. Os leitos estão sendo ampliados, mas quem cuida? O vírus não para, contudo, os recursos humanos são limitados. Indicadores despontam, enquanto está cada vez mais difícil preencher as escalas de plantões.
ESPECIAL | Um ano de Covid-19
Depois de tantos meses de sufoco, é como se vivêssemos em uma realidade que se repete. O “depois” já deveria ter chegado. Meses atrás, se imaginava que, a esta altura, o cenário seria de redução sustentada na disseminação, vacinação ampliada nos grupos populacionais e a rotina movida pelo famigerado “novo normal”, qualquer que fosse. Mas o vislumbre de esperanças é apagado pela realidade sentida diariamente: não há boas perspectivas.
A fragilidade, própria de quem é de carne e osso, obrigou Elodie Hyppolito, 50 anos, a parar. A hepatologista, que atua no Hospital São José de Doenças Infecciosas, teve quadro de síndrome de Burnout (esgotamento profissional) no fim de 2020. A tensão emocional e o estresse provocados pelo trabalho geraram ansiedade, depressão, insônia. “Precisei de ajuda psiquiátrica e me afastei por 45 dias do trabalho”, relata a médica, que integra o Coletivo Rebento – Em defesa da Ética, da Ciência e do SUS. Ela conta que a maioria dos profissionais de saúde já costuma trabalhar em uma carga horária extenuante. “Tem colegas mais jovens que chegam a trabalhar 100 horas por semana”, alerta.

Ela conta que diversos profissionais de saúde também têm enfrentado transtornos mentais pelo desgaste, o medo de infectar familiares e a experiência de ver colegas de trabalho padecendo. “Temos um colega médico de 30 anos da equipe que está entubado há quase 20 dias. Hoje, a gente perdeu uma enfermeira da equipe.”
Elodie afirma que é praticamente impossível para um profissional da linha de frente se desligar totalmente. Mesmo em casa, o telefone não para com a procura de amigos e familiares pedindo orientação. O grande mecanismo de adoecimento, para a médica, é justamente esse: não poder parar. “Além de médica da linha de frente, sou professora. Tenho três empregos, casa, família. Quando a gente vê uma médica, não se lembra disso. Que a pessoa tem vida pessoal. Ou teoricamente deveria ter. Como vai negar orientar um vizinho? Você tá deitado e de repente alguém precisa de ajuda”, conta.
Apesar de difícil, ela tenta. Voltou a pintar, bordar, caminhar (antes do lockdown), tentar ver filmes. O iminente colapso do sistema de saúde tem causado angústia dobrada. “Nenhum profissional está preparado para não assistir a um doente”, demarca a fragilidade de quem luta, emendando com o seu maior pesadelo: “acontecer o que aconteceu em Manaus, estar em um hospital e faltar oxigênio.”
Com a ampliação dos leitos de internação, o sistema de saúde, público e privado, se depara com o “grande calcanhar de Aquiles.” O doente mais difícil de tratar requer um profissional altamente treinado e especializado. “Já recebi mensagens de três hospitais desesperados procurando profissionais. Já existe necessidade maior do que a disponibilidade de médicos de terapia intensiva. Não no São José, mas a gente tem notícias que algumas unidades estão sem conseguir repor profissionais que ficam doentes”, alerta. “O pior é não ver uma luz do fim do túnel. Antes, quando a gente enfrentava um plantão duro, a gente sabia que ia descansar e o outro plantão poderia ser bem tranquilo”, acrescenta.
ESPERANÇA | O que já mudou nos lugares onde a vacinação avançou
Essa exaustão atinge fortemente profissionais da atenção primária também. O atendimento nos postos de saúde é um dos termômetros do impacto epidemiológico da patologia, com aumento dos registros de síndrome gripal. Com a diminuição da segunda onda, a demanda reprimida de pacientes com outras doenças foi em busca de assistência. “Aumento de pacientes não Covid já em processo de descompensação. Hipertensão, diabetes, transtornos mentais. Outras demandas. Agora, um novo pico. Não houve período de tranquilidade”, explica Marco Tulio Aguiar, médico de família e comunidade e coordenador do programa de residência e internato de Medicina da Família da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (Famed- UFC).
“A nova cepa é uma grande interrogação. Perceber o sofrimento dos pacientes gera um grande desgaste além de ter acompanhado muitos pacientes que foram internados. Como a gente faz o cuidado integral de todas as pessoas do território, conhecemos a família toda. Se tem um paciente que vem a falecer, a família toda vive o luto. Gera muito sofrimento”, destaca. Ainda há a tentativa de evitar a exposição de profissionais em grupos de risco.
“Não participam da atividade assistencial diretamente, são envolvidos em trabalho remoto ou consulta remota, que é muito importante no acompanhamento de pacientes agudos e crônicos. Isso gera demanda maior para quem trabalha presencialmente”, relaciona, citando que muitos acumulam jornada de trabalho dupla ou tripla. “Colegas trabalhando dois, três dias sem ver a família. A gente sofre com as perdas e com os pacientes sofrendo. Muitas vezes, a gente não tem oportunidade de ser cuidado”, resume.
ASSISTA | Série de documentários "Atravessar a pandemia". Três primeiros episódios no fim desta página
“O tempo inteiro a gente tentou lidar com a possibilidade de inflexão da vida que vivia mas que ia se reestruturar. Seria algo transitório e a vida ia se ajustar ao que se imaginava que seria o futuro. O calendário virou mas não saímos de 2020, continuamos presos em uma a vida que foi radicalmente modificada”, reflete a ginecologista e obstetra Liduína Rocha, 51.

A sensação de trabalhar com as últimas forças impera: “estamos ficando no limite dos recursos humanos. Todo mundo está exausto. Há um tensionamento do limite da possibilidade de pessoas assistindo. É muito angustiante.” O cansaço é potencializado pelo cenário desanimador. “A morte é muito objetiva. Essa realidade fala muito profundamente. Vai além da adaptação pessoal e das histórias de vidas. Estamos em uma condição pior do que um ano atrás”, diz a médica, que é presidente do Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal e da Associação Cearense de Ginecologia e Obstetrícia (Socego).
A atuação de risco nessa situação de emergência causa uma rotina de tensão e desgaste. É difícil aprender como descansar, estar “de fora” na tentativa de aliviar a pressão. O que ameniza, para Liduína, é olhar para as próprias relações de afeto. “Olhar para a minha mãe, meus filhos, meus familiares, para as pessoas com as quais eu me relaciono. Vê-los bem me dá uma dimensão de privilégio. Me dá o comprometimento de quem não tem essa condição. É um paradoxo que tenho o tempo inteiro. Dizem que é preciso ter coragem. Mas não. É necessário que haja comprometimento”, prioriza.
Na perspectiva dela, é preciso fazer a leitura da realidade e estar em contato com ela humanamente. “Não se trata de sermos heróis. Somos profissionais como qualquer um de vocês. Obviamente existe um comprometimento fundamental. Mas precisamos exercer a profissão com humanidade. Isso precisa ser dito. É um exercício humano da profissão, não um exercício heroico”, considera.
Leia mais

Trabalhar diariamente em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é como estar em uma guerra. O tempo todo em estado de alerta, descanso escasso, utilizando o arsenal possível. O confronto, nesse caso, é contra um adversário invisível. O objetivo é proteger, resgatar pessoas em risco do agravamento da doença. A situação de desastre que perdura por mais de um ano no mundo é algo que os profissionais nunca imaginaram viver. Não havia como se preparar.
A enfermeira intensivista Daniely Viana, 33, atua na terapia intensiva há nove anos. “Nunca pensei em minha vida que viveria em uma época de pandemia, com uma exaustiva carga horária de trabalho, onde se teria tamanha dificuldades em conseguir insumos para prestar uma assistência adequada”, relata a profissional, que trabalha no Instituto Dr. José Frota (IJF) e no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).
Ela convive com o medo desde que se deparou com o primeiro caso em um dos hospitais em que trabalha, quando ainda utilizam “somente máscaras cirúrgicas acreditando que na instituição ainda não existia Covid-19.” A partir de então, “passamos a ter medo de abraçar os nossos colegas de trabalho, passamos a ter medo de tocar nos nossos entes queridos e até mesmo a conviver com quem amamos”, rememora.
Ela não dispunha de uma das principais alternativas para garantir certo nível de tranquilidade para os profissionais de saúde mais expostos ao vírus, que é se isolar ou se distanciar em alguma medida da família. “Não cheguei a me isolar porque tenho uma irmã acamada e ela depende totalmente de mim para ter uma vida digna. Mas foi um período bastante difícil.”
Ela se emociona ao lembrar que “chegava em casa chorando e pedindo a Deus para que não contaminasse” os familiares que moram na mesma casa. “Tudo era uma total ameaça”, se assombrava. À época, a situação piorou quando colegas próximos se infectaram. O período dramático foi amenizado com ajuda de tratamento psicológico, meditação e o trabalho da espiritualidade.
“Perdi o medo a partir do momento em que conversei com Deus e refleti que caso eu ficasse doente e morresse, teria entendido que já teria cumprido minha missão neste plano. Apenas o pedi que guardasse minha irmã de tudo isso e que isso ocorresse que a permitisse antes da minha partida, que ela voltasse a andar sem depender de ninguém para nada”, imaginava, delimitando que, a partir daí, começou “a viver um dia de cada vez.”
Lá na primeira onda, ela chegou a trabalhar 84 horas semanais, “pois muitos colegas estavam adoecendo e os pacientes não poderiam ficar sem assistência”, explica. Com a diminuição de casos, mortes e hospitalizações, foi como se houvesse um armistício. Foi possível começar a respirar aliviada “já sonhando em ter os nossos abraços de volta, a normalidade da atividade física, e pelo menos pequenas reuniões em pequenos grupos mesmo sendo com máscara”, almejava a enfermeira. Com todos os cuidados, mesmo trabalhando em exposição extrema ao vírus diariamente, ela nunca se infectou. Sua mãe e sua irmã também. Um alívio.
Ela estava de férias até o início de fevereiro e, ao retornar, se deparou com a realidade novamente trágica. “Minha equipe surtada, com muito mais medo que antes, olhares angustiantes. A ficha só caiu quando passei a ver gente nova e sem comorbidades morrendo, quando me passaram a quantidade exorbitante de doentes esperando uma vaga de UTI”, se assustou. A segunda onda tem sido muito mais exaustiva, pois além dos profissionais estarem bastante cansados, percebe-se que essa variante do vírus “tem sido traiçoeira”.
LEIA TAMBÉM | O que mudou na compreensão sobre a Covid-19 após um ano de pandemia
Aos profissionais que atuam nas unidades de alta complexidade, o paciente Covid-19 apresenta um desafio a mais com relação a outras doenças. “O paciente Covid-19 tem vários tipos de apresentação. O que vai para UTI tem dificuldade de lidar com essa troca respiratória, o pulmão dele fica comprometido. Os que ficam em ventilação mecânica, a gente tem que tá fazendo ajuste, colhendo exame, alterando a conduta a todo momento. Ajuste fino no cuidado. No caso do ventilador, além da quantidade de oxigênio, existem parâmetros para ajustar: volume de oxigênio, frequência respiratória. Cálculos que tem que ser fazer durante o plantão”, explica o médico intensivista Zilfran Teixeira, presidente da Sociedade Cearense de Terapia Intensiva (Soceti).

Ele atua em três unidades da Capital, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e Hospital Antônio Prudente. Ele é categórico: “a gente não tem profissionais com qualificação para cuidar de todos esses leitos. Estamos em situação de guerra.” Ele diz que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) sugeriu “exceções com o objetivo de salvar vidas.” A orientação é colocar pessoas com mais experiência coordenando as unidades e médicos com menos experiência conduzindo diretamente o paciente. A resolução sugere a proporção de um médico a cada dez pacientes em UTIs.
A situação é preocupante porque muitos médicos intensivistas experientes estão muito sobrecarregados. No primeiro momento, os médicos estavam mais descansados mas ainda estavam aprendendo, mais apreensivos. Do ponto de vista de expertise, agora as equipes sabem como conduzir melhor e isso gera mais conforto aos profissionais. “Mas lidar em uma UTI só paciente Covid é muito cansativo. Uma jornada de 12 já é muito exaustiva. Tem gente passando 24h, 36h, não é recomendando mas não tem gente para colocar”, avalia.
Mais uma vez, o horizonte desanimado é apontado como mais um peso a ser suportado: “a gente tem que trabalhar mas sem ver perspectiva. Antes, pensava: ‘vou dar um gás, trabalhar muito durante um mês e depois vai melhorar, estar tranquilo’”, resgata. Ver colegas em esgotamento ou precisando de hospitalização pela infecção gera angústia. “Você pensa: posso ser o próximo. Temos vários colegas internados em UTI, alguns graves”, diz.
“Está muito difícil atualmente em preencher as escalas pois a linha de frente está adoecendo e o mais frustrante e ver que a ficha de uma parcela da população ainda não caiu”, salienta a enfermeira intensivista Daniely. A peleja com os mesmos propósitos. A vida das pessoas. Sãs e salvas. A própria vida de volta. “Queremos os nossos abraços, nossa rotina de volta, mas para isso precisamos que a população colabore para que se possa prestar um atendimento digno”, acrescenta Daniely.
Com cansaço e sobrecarga, o que mais motiva Zilfran é salvar as pessoas, reverter situações graves, ver resultados. Ele sabe que, a despeito da vontade e dos esforços, não é possível êxito em todos os casos. “Mas a gente consegue salvar muitas vidas. O que move o profissional é a capacidade do cuidar”, aponta. “Nem lazer a gente pode ter esses dias. A gente tá um pouco amarrado. Ajudando uns aos outros”, completa o médico.
Leia mais

A pediatra Krislane Vasconcelos, 31 anos, lida com “o bem mais precioso de uma família”, como ela se refere. Além de controlar a doença, a dor ou o incômodo físico das crianças, ela acolhe angústias, preocupações e, muitas vezes, “acalentamos o choro e seguramos a mão nas horas difíceis.” A pós-graduanda em cuidados paliativos atua no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). Apesar do peso do desgaste físico ela considera que o mental é, sem dúvida, o pior. "É um grande desafio, mas estamos vivendo ao pé da letra o juramento de Hipócrates né: cuidar primeiro, curar quando possível. Ninguém sabe ao certo como curar totalmente a infecção por Covid, mas aprendemos a cuidar e temos buscado fazê-lo da melhor forma possível", elenca.
Para driblar o dia a dia angustiante, ela tem seu recurso: a fé. No último dia 3 de março, ela e o marido foram fotografados em momento de oração pelo repórter fotográfico do O POVO, Fabio Lima. "Após a missa, saímos, literalmente, em missão, deixando aos pés da cruz nossos medos, cansaço e dores", compartilha, sobre o compromisso com a Eucaristia que ela e o marido, o intensivista Luiz Fernando Oliveira Torres, 33, mantêm. “Alguns hábitos antigos como a leitura de um livro à noite para as crianças, cantar ou dançar junto com elas, rezar, fazer vídeos caseiros para ‘presentear’ os demais familiares têm sido práticas incentivadas e de grande ajuda para a saúde mental e estímulo ao desenvolvimento dos menores”, pontua.
O casal estabeleceu uma rotina de apoio e cuidado mútuo para conseguir passar pelas dificuldades, cuidar da sanidade mental e da saúde física, evitando rotinas exaustivas com muitas horas consecutivas de plantão. "Rezamos, lemos, assistimos filmes, buscamos aproveitar outras coisas além da situação atual e esquecer um pouco a pandemia a fim de não surtar", conta.
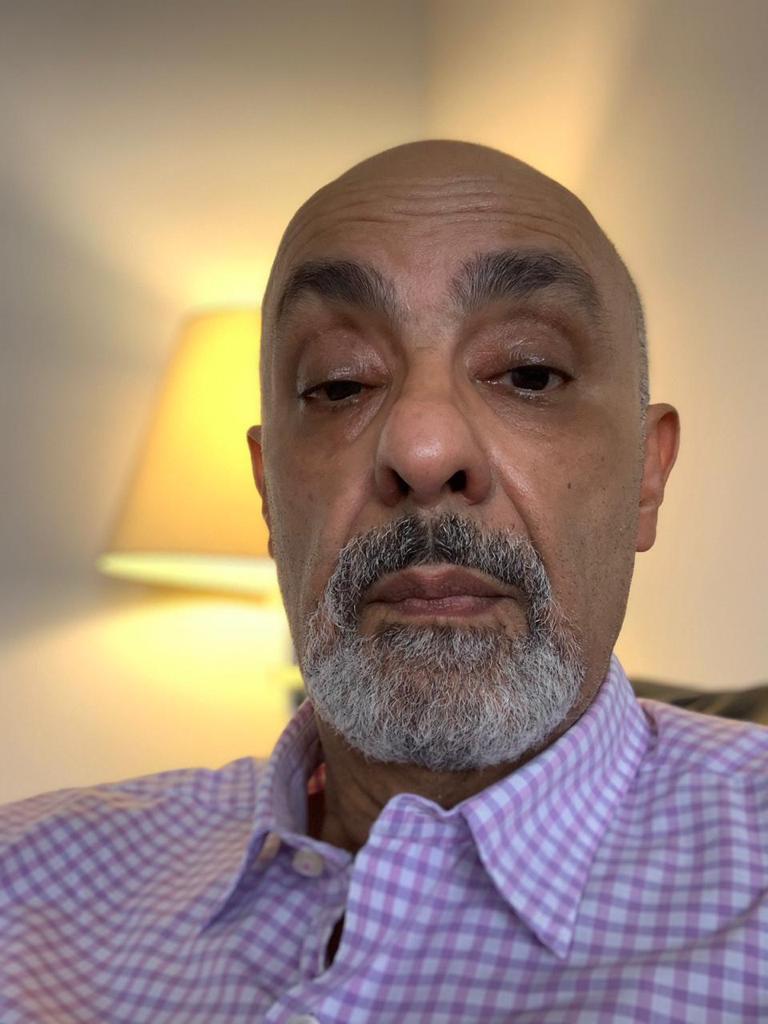
Ainda é difícil prever os impactos na saúde mental dos profissionais da saúde, principalmente dos que atuam na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Na avaliação do psicólogo clínico Olavo Sant'anna Filho, que atua há 40 anos com suporte psicossocial em emergências e desastres e é conselheiro da Cruz Vermelha Brasileira, instituições devem garantir suporte psicossocial à categoria da saúde. Profissionais devem ter tempo de descanso e de convivência com entes queridos para diminuir impactos na saúde mental.
O POVO - Como mensurar o impacto da pandemia para a saúde mental dos profissionais que atuam na linha de frente?
Olavo Sant'anna Filho - Quando se fala em termos de impacto, por experiências anteriores em desastres de qualquer natureza, o nosso psiquismo não está preparado para a surpresa. Quando tomado pela surpresa, cai aturdido e produz respostas falsas ou nenhuma resposta. Em termos de emoções, não há precedentes desta pandemia para essa geração nos últimos 100 anos. Pouquíssimas pessoas, talvez como um bebê, vivenciaram a gripe espanhola. O que se tem é por experiências em outros tipos de desastres em massa.
Essa pandemia gerou uma consciência da necessidade de estudar e acompanhar o problema dos profissionais da linha de frente. Seja médico, enfermeiro, profissionais de limpeza, fisioterapeutas, psicólogos. O estresse, até determinado momento, é natural e próprio do organismo para a defesa. Após um tempo, gera burnout. Tem familiares que estão isolados ou os próprios profissionais estão se isolando dos familiares. Estão sofrendo por atenderem a pessoas que precisam de empenho e dedicação. Mas não deixam de ser pais, mães, irmãos, filhos de outras pessoas que estão no epicentro da pandemia. Estão bombardeados por todos os lados.
A diferença dos demais desastres é que não tem prazo para terminar. Em um desastre, tem a fase de impacto, o pós impacto e a recuperação. Ainda estamos no impacto. A cada dia aparecem novas variantes, tem vacina mas o número de mortos a cada dia é assustador. São efeitos cognitivos, insônia, diminuição de memória, atenção. Efeitos emocionais, raiva, depressão. São emoções normais e esperadas para uma situação de desastre. Anormal é a pandemia, que precisa ser combatida tecnicamente, com as medidas científicas.
Tudo isso esgota o profissional de linha de frente que está tratando das pessoas. Pelo próprio trabalho em si, virando horas de trabalho. Estão perdendo os próprios colegas e não podem viver o luto porque os velórios são fechados, com caixões lacrados. A mídia bombardeia com informações. O que, por um lado, é bom. Quando a população segue as orientações. Por outro lado, tem o estresse.
Em termos de saúde mental, nunca se produziu tanta pesquisa procurando atenuar os impactos mentais. Não tem como. Não existe uma blindagem. Não há como blindar os profissionais, a população. Estamos sendo bombardeados nos diversos papéis. Por outro lado, existem muitos estudos e recomendações de como essas pessoas podem reduzir o estresse. Técnicas de manejo para reduzir na medida do possível.
OP - Para quem está atuando dentro de uma UTI, por exemplo, é uma situação comparável a qual contexto traumático? É comparável a uma guerra?
Olavo - Eu diria que para comparar com outros desastres é possível e é o que tem sido feito. Todos os organismos internacionais que se preocupam com saúde mental se utilizaram dessas experiências para elaborar cartilhas, metodologias para programas de diminuição da angústia, do estresse, do medo. Mas não existe precedente desse tamanho. Não existe desastre. O maior tinha sido 11 de Setembro. Teve o furacão Katrina (nos Estados Unidos, em 2005), o terremoto do Haiti (2010), o terremoto de Kobe (no Japão, em 1995), Chernobyl (desastre nuclear na União Soviética, em 1986). No Brasil, Brumadinho (rompimento de barragem em Minas Gerais, 2019). Também tem conflitos armados permanentes na África, no Oriente Médio. Os psicólogos nunca trabalharam com um tema tão comum em todas as partes do mundo. A gente sabe o que pode causar.
OP - Quais fatores específicos tornam essa atuação tão traumática mas diferem de outras tragédias?
Olavo - A grande diferença dos grandes desastres é a questão do isolamento. Você não tem tanto isolamento por tanto tempo. Há um corte dos vínculos relacionais e sociais entre as pessoas. Você sente porque as pessoas sentem a necessidade de ir à escola, ao bar, à festa. Em um certo tempo você suporta. Tem o uso da máscara que reduz o contato social, porque nós fazemos muita leitura labial quando conversamos. Gera dificuldade de ver a expressão das pessoas. Temos que desenvolver outros meios de entender as pessoas.
OP - Quais repercussões isso pode causar para os profissionais?
Olavo - Só vamos saber a dimensão do impacto quando começarmos a ter a redução do número de mortos, infectados e pessoas internadas. Falar hoje a esse respeito é prematuro e seria adivinhação. Em outros desastres, vimos que nem todo mundo fica doente, nem todo mundo tem estresse pós-traumático. Vamos ter que esperar. Com as medidas preventivas, certamente o impacto vai ser menor. O trabalho é para reduzir isso. Ainda estamos no olho do furacão. O desastre está ocorrendo ainda. Na saúde mental, infelizmente, não tem como buscar uma vacina. Tem metodologias que ajudam a aliviar.
OP - O que pode ser feito para evitar consequências mais graves principalmente para quem atua na linha de frente?
Olavo - A primeira coisa é que todas essas organizações empenhadas no suporte do atendimento às vítimas de Covid-19 precisam pensar, preparar e disponibilizar suporte psicossocial. É preciso ter momentos de descanso, falar das emoções, mostrar que não é uma vergonha se sentir assim. Permitir que o profissional dê nome à essas emoções. Permitir que tenham tempo de repouso mínimo necessário para se recuperar e conviver com os familiares respeitando os critérios de distanciamento e cuidados. É indicado manter contato a partir dos meios remotos, não como o ser humano sempre conheceu, cara a cara. Ele precisa ter um tempo para falar, conversar, se abrir. E para conviver com seus familiares, descarregar as emoções aprisionadas. Não há como um médico ou enfermeiro não sentir nada enquanto trabalha quanto mais quando termina o serviço. Ele não deixa de ser médico, por exemplo, quando tira a vestimenta e vai para a casa. Compartilhar vivências é um meio muito útil e que ajuda muito as pessoas a saberem que não são só elas e que existe solução para amenizar. Não temos um prazo de quando vai acabar.
Todos os hospitais já deveriam ter disponibilizado recursos, meios para os profissionais terem esse suporte por que isso é fundamental. Que eles reconheçam que não são super homens e que são afetados pelo sofrimento. Mas são heróis, sim, porque enfrentaram o desconhecido e conheceram o desconhecido depois desse um ano. Não são super heróis porque não têm poderes especiais. Como se fosse em uma batalha e são aqueles soldados que estão ali na linha de frente. Mas não tem poderes especiais. Há um limite no ser humano. É preciso reconhecer que estão no máximo e não têm soluções milagrosas. Não podem cobrar coisas que eles não podem dar. Fundamental, necessário e imprescindível que se providencie suporte psicológico permanente a esses profissionais para que possam denominar os sentimentos que estão sentido. Que a gente procure uma vacina psicológica para que rompam essa carapaça que está aprisionando as emoções.
Assista à série "Atravessar a Pandemia"
Série de reportagens que marca um ano da pandemia de Covid-19 no Brasil