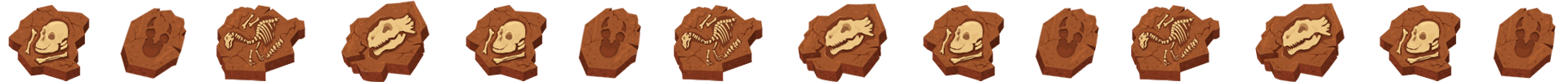
Resumo
Aquele deveria ser só mais um dia relativamente tranquilo. As patas submersas no raso da laguna quieta, meladas em lama, davam base para que as mandíbulas lotadas de dentes finos, alongados e móveis mergulhassem na água salobra. A bocarra se fechava e a água era filtrada, sobrando crustáceos e moluscos para deliciar o pterossauro.
Mas então este Bakiribu waridza percebe uma movimentação estranha. O coração palpita ao virar a cabeça e ver vários dos seus voando, fugindo dele: o espinossauro. Um dinossauro corpulento, variando entre 6 e 8 metros de comprimento e dois de estatura. Algumas espécies pesavam de 500 kg a uma tonelada — e para sustentar essa massa, era necessário um cardápio à altura.
Mais de 110 milhões de anos depois, descobrimos a sina fatal de nosso Bakiribu, junto a outro colega da mesma espécie, registrada em um fóssil de regurgito da Bacia do Araripe. Uma nova espécie de pterossauro do Cariri, diga-se de passagem, e globalmente impactante: esta é a primeira vez que um pterossauro filtrador é descrito nos trópicos.
“Esse tipo de alimentação é bastante rara entre pterossauros”, explica a paleontóloga Aline Ghilardi, professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e coordenadora da pesquisa que apresentou o Bakiribu ao mundo, publicada neste mês na revista científica Scientific Reports.
São poucas as espécies conhecidas de pterossauros adaptados à filtração, uma forma de alimentação bem parecida a dos flamingos e das baleias. Bakiribu é o primeiro do tipo no Brasil e nos trópicos, preenchendo uma lacuna até então inexplicável na paleontologia.
Isso porque existiam espécies na Europa, na Ásia e no sul da América do Sul, “mas cadê o meio?”, questionavam-se os paleontólogos.
Existem entre 27 e 34 espécies descritas de pterossauros encontrados na Bacia do Araripe, região do Cariri
Ao deparar-se com o fóssil pela primeira vez, Aline já sabia: “a gente está com uma descoberta extraordinária na mão". “Agora sabemos que esse grupo tinha uma distribuição mais ampla do que se imaginava, alcançando regiões tropicais, onde anteriormente não havia sido registrado”, descreve.
A felicidade da descoberta vai muito além de somente conhecer o Bakiribu. As condições nas quais ele foi fossilizado também dão pistas de relações ecológicas que descrevem, com mais detalhes, como era a vida no início do período Cretáceo caririense.
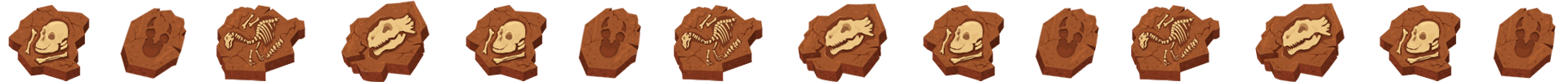
O

O curador, Claude Luiz de Aguilar Santos, é um especialista em peixes fósseis e logo identificou cerca de quatro peixes fossilizados na rocha, e assim classificou o conteúdo. Anos passaram e, em 2023, o estudante de Biologia William Bruno de Souza Almeida (UFRN) decide fazer um levantamento de fósseis de peixes da Bacia do Araripe disponíveis no acervo do museu.
Nesse processo, ele se depara com o mesmo exemplar. Apesar de enxergar os peixes, o fóssil na totalidade era meio estranho. A massaroca de estruturas alongadas em uma das extremidades da rocha era muito diferente, então ele procurou a orientadora Aline Ghilardi.
“Foi muito emocionante, para ser sincera”, relembra a pesquisadora. “Na hora que vi esse material eu abri um sorriso. Eu falei assim: ‘Ô, Bruno, sabe por que esse aqui não dá para identificar? Porque tem peixe, mas porque essa coisa aqui em cima não é um peixe.’ E aí eu saí feliz, rindo, brincando assim com eles: ‘Vou colocar ele na lupa. Vamos ver se eu tô certa.’”
A priori, a sensação dos outros era de incredulidade. Quando Tito Aureliano, co-autor do estudo e pesquisador associado à UFRN e à Universidade Regional do Cariri (Urca), ouviu que aquilo era um pterossauro, a reação foi duvidar.
“Que pterossauro o quê, isso é um peixe que explodiu”, disse Tito. Mas Aline persistiu. Acontece que, por coincidência, ela havia lido um artigo sobre os dentes do Pterodaustro, o parente mais próximo do Bakiribu, poucas semanas antes.
Por isso, ela foi capaz de encarar o fóssil e perceber que aquela mistura de formas não-identificadas eram, na verdade, dentes. Muitos e muitos dentes.
“O William tava brilhando, pulava de um lado pro outro igual uma faísca”, descreve a paleontóloga. Ela tirou uma foto do fóssil e enviou para Felipe Pinheiro, paleontólogo cearense associado à Universidade Federal do Pampa (Unipampa) especialista em pterossauros.
“Mandei só um quadradinho e perguntei: ‘Fê, o que é isso?’ Ele: ‘Dente de Pterodaustro’. Aí falei: ‘Putz, Felipe, você disse tudo que eu queria’”, descreve.

Mesmo com essa parte do mistério resolvida após uma série de análises, aquele ainda era um fóssil estranho. Acontece que os fósseis do Cariri são, geralmente, bem organizadinhos; esse, por sua vez, parecia uma mistureba, com dentes e ossos bagunçados. Isso garantiu ao fóssil o apelido de “mingau” durante as etapas do estudo.
Ficava ainda mais esquisito ao comparar a parte dos pterossauros com a dos peixes fossilizados na mesma rocha: os companheiros aquáticos estavam empilhadinhos, perfeitos, com cabeça, corpo e cauda nos lugares certos, sem misturas.

Depois de muito quebrar a cabeça, chegou a resposta. Aquilo era um regurgito — vômito, para os íntimos —, provavelmente de um grande dinossauro. Os dois Bakiribus, aparentemente adultos, foram devorados e já estavam sendo digeridos quando algo provocou o vômito do predador.
Não é possível ter certeza sobre o que causou o vômito. Algumas pesquisas sugerem que certas espécies de dinossauros poderiam regurgitar ossos e outros tecidos que eles eram incapazes de digerir, em um processo natural visto, atualmente, em corujas e outras aves.
No entanto, a hipótese dos pesquisadores da UFRN para este regurgito específico é outra. “Eu não sei se consigo bater o martelo para você, mas o que a gente observa é que os ossos dos pterossauros estavam com sinais leves de corrosão (já estariam sendo digeridos), mas os peixes, não. A gente imagina que houve um desconforto por aquela massa do pterossauro, dos dentinhos, impedindo os peixes de descerem (e provocando o vômito do predador)”, deduz.
Cada pedaço da história oferece “um vislumbre direto das relações ecológicas desse antigo ecossistema”.
“O Araripe do início do Cretáceo era um ecossistema vibrante e complexo, comparável, em diversidade, a qualquer laguna tropical moderna. As novas descobertas nos ajudam a reconstruir essa antiga teia de vida que o tempo transformou em pedra”, complementa Aline.
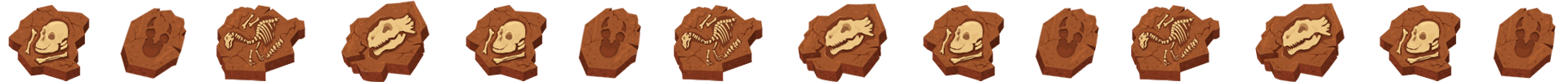
O nome científico Bakiribu waridza vem da língua indígena kariri. Bakiribú significa “pente” e waridzá, “boca”, descrevendo o “arranjo de centenas de dentes finos e alongados que o animal usava para capturar alimento na água”.
“Desde o início a gente queria muito que esse fosse o primeiro bicho do Araripe nomeado com a língua kariri, porque até então a gente não tinha”, explica Aline Ghilardi. O movimento vem de um longo trabalho contra o colonialismo científico, em uma ação que garante mais participação e valorização dos povos e comunidades do local de origem do fóssil.

A responsável pelo nome é a cearense Idiane Crudzá, professora da língua dzubukuá kariri kipeá. Junto a outros parentes da nação kariri, Idiane ofereceu à equipe científica uma variedade de opções de nomes para o pterossauro. “Teve toda uma avaliação ouvindo várias opiniões”, relembra a professora.
“Para mim, isso é um marco muito histórico na nossa língua”, comemora Idiane. “É como uma conquista de uma retomada ancestral. Todos e todas que estou enviando estão muito felizes com esse marco histórico.”
“Porque, para uma língua que já foi dada como morta, hoje temos algo tão precioso com o nome kariri. É muito gratificante”, define.
A professora analisa que a língua kariri tem passado por um processo positivo de valorização, a exemplo da co-oficialização da língua dzubukuá em Crateús.
“Eu acredito que todos os políticos do Estado, da parte da educação, onde tem escolas que pertencem ao povo kariri, devam abraçar essa causa, para o fortalecimento crescer ainda mais e todos os cariris levem a sua língua para suas comunidades, para dentro das escolas”, defende. “Mas ainda falta muito apoio.”
Além do resgate do nome, Bakiribu também volta fisicamente para casa. A partir de agora, uma das duas partes do holótipo do Bakiribu ficará no acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens (MPPCN/Urca), em Santana do Cariri (CE), a capital cearense da paleontologia, a 309,3 km de Fortaleza.
A segunda seguirá no acervo do Museu Câmara Cascudo. A divisão visa garantir que o fóssil volte para o local de origem, ao mesmo tempo em que ele tenha a contraparte preservada em outra coleção, para evitar tragédias como a do Museu Nacional — quando incontáveis fósseis concentrados no acervo foram incendiados.

A decisão foi tomada de comum acordo entre a UFRN e a diretoria do MPPCN, na figura do diretor Alysson Pinheiro. “Sempre é defendido que os fósseis fiquem na região em prol do desenvolvimento regional.”
“Surgiram vários questionamentos durante o processo, principalmente considerando que o pesquisador que vai visitar o material vai ter que ir de Natal pro Cariri para ver o mesmo bicho", pondera a pesquisadora. “Mas é isso mesmo. Deixa o dinheiro lá, deixa dinheiro aqui também, e assim desenvolve ambos os lugares.”
Reportagens do O POVO exploram o universo dos fósseis do Brasil e do mundo